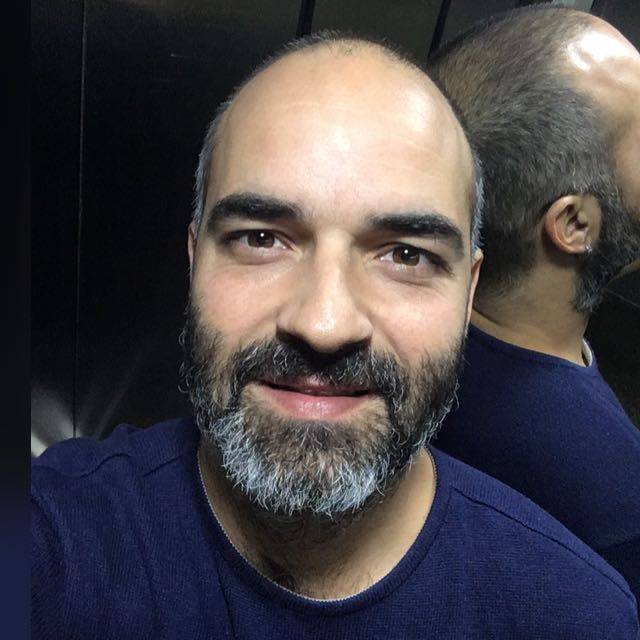Diversidade
‘Não tem como estar na posição que ocupo e não falar sobre racismo’
A advogada Marcelise de Miranda Azevedo, sócia de um grande escritório, fala a ‘CartaCapital’ sobre a igualdade racial no Direito

“A advocacia não está afastada do mundo. Ela reproduz a realidade. E na nossa realidade, as pessoas negras, especialmente as mulheres negras, estão em funções que são menos valorizadas”. Quem faz a constatação é a diretora do escritório Mauro & Menezes Advogados, Marcelise de Miranda Azevedo.
De fato, pesquisa de 2019, do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (Ceert), em parceria com a Aliança Jurídica pela Equidade Racial, mostra que pessoas negras são menos de 1% entre advogados de grandes escritórios de São Paulo. Entre pessoas brancas no ramo, 48% são sócios e advogados juniores, plenos ou seniores. O estudo ouviu 3.624 pessoas em nove bancas de advocacia da capital paulista.
Diretora de Marketing e Relações Institucionais e coordenadora do escritório Mauro Menezes & Advogados em Brasília, Marcelise define o racismo brasileiro como “envergonhado e hipócrita”. Nesta entrevista a CartaCapital, ela ainda fala das relações entre o racismo estrutural e a desigualdade racial no meio jurídico.
Confira a seguir.
CartaCapital: Por que há poucas pessoas negras, e principalmente mulheres, em cargos de chefia na advocacia?
Marcelise de Miranda Azevedo: A advocacia reproduz o nosso mundo. Ela, obviamente, não está afastada do mundo e da nossa realidade. Na nossa realidade, as pessoas negras, especialmente as mulheres, estão em funções que são menos valorizadas financeiramente. Nos trabalhos domésticos, tarefas de cuidados, que são trabalhos de menor remuneração e considerados menos relevantes.
Se olharmos também na medicina, na arquitetura, nos conselhos, nos boards das grandes empresas, a gente ‘conta nos dedos’ o número de mulheres e, mais ainda, o número de mulheres negras. E isso é uma reprodução do racismo estrutural da nossa sociedade.
CC: Como mudar esse cenário?
MMA: Não dá para esperar uma suposta melhora em relação ao racismo. A gente vai tentando fazer tudo ao mesmo tempo. Enquanto tenta solucionar o problema social, estrutural, do Brasil, vai cavando espaços dentro das estruturas atuais. Há saídas, e muitas dessas saídas já estão experimentadas em organizações da sociedade civil: nas universidades públicas, com a política de cotas; cotas em concursos públicos; cotas para vagas de professores universitários. Podemos trazer essa experiência, também, para a iniciativa privada, para as grandes corporações, para as bancas de advocacia.
Eu sempre brinco que para as mulheres existe o chamado teto de vidro, que as impede de passar das funções operacionais para as funções executivas, e para as mulheres negras eu digo que existe uma porta de vidro. Ou seja, elas não conseguem nem passar para o lado de dentro. E o jeito de resolver isso é ter pessoas negras nas posições de gestão. essa visão de que precisamos ter um espaço de diversidade, de que precisamos ter mulheres negras em tais posições. Na verdade, eu não gosto muito da palavra diversidade. Como assim diversidade? Num país em que a gente é maioria, como é que se pode dizer que isso é diversidade?
Ao mesmo tempo em que tive oportunidades, vou ao tribunal e sinto falta de olhar para o lado e ver um colega ou uma colega advogada negra. Eu passei anos sem ter um colega negro
CC: Você poderia nos contar um pouco da sua história no Direito?
MMA: Eu tenho, de certa maneira, uma dificuldade de me olhar como diferente. Acho que isso acontece porque meu pai [Sebastião Azevedo, ex-presidente do INCRA e atualmente advogado] pulou, digamos assim, a barreira de classe e a barreira econômica por mim. Ele é procurador federal aposentado. Entrou no serviço público em 1977, fez uma longa carreira, e só saiu em 2007. E nessa carreira ele foi bastante longe. Foi presidente da autarquia em que era procurador federal, foi chefe de várias Procuradorias federais onde trabalhou; enfim, ele teve uma longa carreira pública, de muito sucesso. E, com isso, nós fomos criados como filhos de um servidor público com bom poder aquisitivo. Sempre moramos no Plano Piloto de Brasília, estudamos nas melhores e mais tradicionais escolas, ou seja, sempre tivemos acesso a estudos e a oportunidades. Quando entrei na faculdade, meus colegas eram os mesmos da época de escola; depois, quando eu comecei a trabalhar, encontrava nos tribunais e nas confraternizações os mesmos colegas de escola.
Às vezes, as pessoas me “lembravam” que eu não era branca. Mas do ponto de vista de classe, eu tive essas oportunidades, o que, talvez, me trouxe um pouco mais de segurança quando comecei a advogar. Mas meu pai, sim, de origem muito simples, se formou na Universidade Federal do Maranhão, numa turma em que só tinha ele e mais um negro, se não me engano. Se formou aos 30 anos porque precisava trabalhar, já era servidor público e tudo. Ele, sim, viveu intensamente a dificuldade que é ser negro, nordestino, pobre, e querer ingressar em uma carreira de elite, digamos assim. Eu pulei isso, felizmente, graças a meu pai. E essa situação é um grande paradoxo para mim.
Porque, ao mesmo tempo em que tive oportunidades, vou ao tribunal e sinto falta de olhar para o lado e ver um colega ou uma colega advogada negra. Eu passei anos sem ter um colega negro ao lado.
Passei anos até ver um ministro do Tribunal Superior do Trabalho negro, um ministro do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. E nenhuma ministra negra, no TST, STF ou STJ. Então, é realmente um paradoxo, porque, apesar de não me sentir diferente, quando olho para a realidade, falo: “É, mas a gente é diferente, né? Porque, senão, onde estão os negros e negras?”.
CC: Essa percepção impactou sua consciência de que é necessário modificar esse panorama?
MMA: Não tem como estar numa posição como a que ocupo e não falar sobre racismo, sobre as oportunidades, sobre espaços. Ou, realmente, as pessoas acreditam que só homens brancos, de 50 a 60 anos, têm capacidade de ser gerentes, administradores e gestores dos escritórios de advocacia?
Então, é óbvio que eu falo disso quando sou convidada, como às vezes acontece, a falar em algum evento sobre a presença das mulheres negras nos escritórios de advocacia. “Olha só, gente, não só faltam mulheres na gestão, como faltam mulheres negras, homens negros”. Não é possível que só homens brancos de 50 anos consigam ser gestores de escritórios. E, novamente, é a reprodução da nossa sociedade. A sociedade acredita nisso.
CC: Como enfrentar o racismo dentro das instituições?
MMA: A minha visão é a seguinte: temos um problema para resolver. E quando esse problema está dentro das corporações e instituições, a gente tem de dar soluções institucionais e corporativas. Meu escritório, por exemplo, tem quatro diretores: o diretor-geral e mais três diretorias. Nós somos, entre esses quatro diretores, dois homens e duas mulheres. Ou seja, em algum momento, toma-se a decisão institucional e política de que precisamos de uma visão paritária das coisas, de que a gente não consegue avançar para uma sociedade mais justa se todos numa gestão forem iguais, tiverem o mesmo background, a mesma visão de mundo. Então, tem de ter uma decisão política na gestão. Política no sentido de que não vamos conseguir uma realidade melhor para o mundo se continuarmos acreditando que isso não é importante, acreditando que tanto faz se são quatro homens ou quatro mulheres, ou se são dois homens e duas mulheres.
É claro que a forma como a mulher vê as coisas em relação à profissão, à gestão, aos rumos de determinadas instituições não vai ser igual à visão de um homem. E aí, quando a gente fecha mais o foco, a mulher negra também, o homem negro também. Tem a diferença de visão, de ponto de vista.
 Marcelise Azevedo é uma das raras diretoras negras em grandes escritórios de advocacia no País (Foto: arquivo pessoal).
Marcelise Azevedo é uma das raras diretoras negras em grandes escritórios de advocacia no País (Foto: arquivo pessoal).
CC: Qual seria o papel nessa luta das pessoas de pele branca que ocupam cargos em diretorias?
MMA: O de entender que a gente não vai evoluir como nação, como sociedade, se não resolvermos o racismo. Acredito nisso piamente. Nós não vamos ter um país melhor se não evoluirmos quanto a isso, com relação ao racismo no Brasil. Existe um “racismo à brasileira”, um jeito brasileiro de ser racista.
CC – Como assim?
MMA: É um jeito envergonhado e hipócrita: “Não. A gente não é racista. Todo mundo tem um pouco de preto no sangue. Ninguém é racista aqui”. Se você perguntar para um brasileiro, ele vai sempre dizer que tem racismo no Brasil, mas que ele não é. Tem pesquisa nesse aspecto. E o fato de os negros brasileiros estarem, infelizmente, nas mais baixas classes, traz, muitas vezes, questionamentos do tipo: “Por que eles não têm grana? Por que o negro brasileiro não tem grana?”, e isso também vai dando uma volta no racismo. “Ah, é porque talvez não se esforce o suficiente. Talvez isso, talvez aquilo…”.
E tem também a questão do colorismo. Por exemplo, eu sou uma negra retinta. Não tem como dizer que eu não sou negra. Mas a minha filha de 15 anos, se quisesse, tranquilamente, se passar por “moreninha”. Mas ela, uma militante em formação, nunca vai admitir que alguém diga que ela não é negra. Então, também tem isso, é outra coisa que é bastante característica no Brasil. O mais interessante é para onde ela acha que deve ir. Ela poderia simplesmente ter dito: “quer saber, vou ‘pagar’ de branca aqui”. Não quis, mas poderia. E eu que lutasse com a minha frustração de ela não se identificar ‘para cá’, e sim ‘para lá’.
CC: Qual a sua visão sobre a política de cotas?
MMA: Acho que a política de cotas universitárias é muito importante. Especialmente para nós, do Direito, em que a mão de obra inicial é o estagiário, temos a alegria de poder contar, desde os nossos estagiários, com meninas e meninos negros, vindos das melhores universidades. E isso não tínhamos antes da política de cotas. Hoje em dia, se você olhar numa turma da UnB – a maioria dos nossos estagiários é de lá – você vai encontrar, por causa das cotas, muitos estudantes negros. Meninos e meninas brilhantes!
E tem outra coisa, o estudante que entra por um programa de cotas, que vem de uma origem mais simples, ele já entra na universidade se politizando, já entra com um entendimento do que significa aquilo, com outro ponto de vista, consciente de que aquela política é fruto de uma visão diferente da visão hegemônica. E isso, consequentemente, leva o estudante ou a estudante a fazer o curso já com outra visão de mundo, com outra bagagem, muito mais politizado. O fato de esse estudante ter se deparado com tal questão, desde a seleção, já traz uma outra visão, eu acho. A pessoa entra sabendo que está ali devido à política de cotas, o que, ao mesmo tempo, permite uma conscientização a respeito da desigualdade social do País e da necessidade da continuação dessa política.
Acho, inclusive, que o País tem outro problema: muitas vezes, no campo progressista, as pessoas não querem discutir a pauta racial, de gênero, como se isso fosse nos separar, como se fosse desunir. Algo como: “não vamos discutir isso agora, não. Vamos nos unir, porque temos uma causa maior”. É muito complexo, é muito complicado, sabe? É uma situação que nos deixa de boca aberta, às vezes. É uma lógica que só atrapalha. Tantas coisas que têm a ver com o racismo são veladas, envergonhadas, como eu te disse. Conheço muitos progressistas que não estão dispostos a fazer essa discussão.
CC: Apoiando-se à questão do chamado identitarismo?
MMA: Exatamente. A gente ainda é acusado de estar “levantando pautas identitárias”. É como se fosse uma acusação. E, no meu ponto de vista, não dá para falar de democracia sem falar de igualdade de gênero e igualdade racial. Estaremos falando de uma democracia capenga.
É super importante pensar o papel das mulheres negras nessa sociedade da seguinte forma: o que significa, o que essas mulheres negras sustentam? Famílias! Muitas vezes chefiadas por elas. Aí temos outra questão do racismo estrutural: o extermínio da juventude negra, e a maioria dos mortos são homens. Ou seja, essas famílias ficam sem os homens para também contribuir financeiramente na estrutura familiar. E essas mulheres vão sozinhas à luta, mães, avós, para sustentar essa comunidade negra. Então, é tudo muito complexo. Não é só o “mercado de trabalho e a mulher negra”. Não é só isso. Tudo faz parte de um caldeirão de situações e de injustiças que vêm sendo arrastadas desde o pior dia da vida dos negros no Brasil, que foi o dia seguinte à abolição da escravidão. Foi o pior dia, certamente. Depois vieram dias muito ruins, mas aquele certamente foi o pior dia.
CC: Por quê?
MMA: Porque foram colocados no mundo sem nenhuma indenização por tudo o que passaram, sem serem considerados parte da sociedade, sem nenhum apoio e com a seguinte afirmação: “agora você é uma pessoa livre”. Livre para quê?
E além desse dia, que eu falo que foi o pior dia, tivemos uma sucessão de movimentos, no sentido de excluir as pessoas negras da sociedade e dos direitos. A gente tem uma ‘lei de terras’, ainda do século XIX, que excluiu a possibilidade de uma pessoa negra ser dona de terras. A gente tem também, por exemplo, uma “lei da vadiagem”, ainda em vigor, que atingia diretamente os homens negros que não tinham emprego e ficavam circulando nas cidades, tentando encontrar ‘bicos’. Então, como eu te falei, não são questões pontuais a serem resolvidas. É toda uma sociedade para consertar, para resolver, para ajustar.
CC: Desde dezembro de 2020, a OAB adota cotas raciais e paridade de gênero nas eleições da entidade. Como foi essa conquista?
MMA: Essa movimentação da OAB começou no início de 2020. Eu faço parte do Movimento de Juristas Negros e Negras, coletivo que conta com advogadas, juízas, procuradoras, promotoras, pesquisadoras. Fomos à Conferência Nacional da Mulher Advogada da OAB, que reúne profissionais do Brasil inteiro e, chegando lá, nos deparamos com toda aquela branquitude, muitas advogadas brancas e poucas advogadas negras.
Decidimos aproveitar esse encontro nacional para falar sobre a falta de representatividade. Lá mesmo, escrevemos uma carta, sugerindo a presença das advogadas negras e advogados negros em todas as instâncias de decisão da OAB. Depois, tivemos o outro projeto, o da paridade de gênero, da colega Valentina Jungmann. Nós, advogadas negras, falamos: ah, vamos falar da paridade, mas não vamos falar da questão da cota racial? A partir disso, iniciamos o movimento de inclusão das cotas e escrevemos mais um documento. O único conselheiro negro da OAB, o advogado André Costa, resolveu levar a discussão adiante, juntamente com o Movimento de Juristas Negros e Negras, que auxiliou na discussão. Quando foi no final de dezembro, houve a sessão de votação na OAB em que foram aprovadas, tanto a paridade entre homens e mulheres quanto as cotas raciais, estabelecida, agora, em 30%, por cerca de trinta anos. Foi uma conquista que, na minha opinião, derivou um pouco do movimento do começo de 2020, no evento em Fortaleza.
Apoie o jornalismo que chama as coisas pelo nome
Os Brasis divididos pelo bolsonarismo vivem, pensam e se informam em universos paralelos. A vitória de Lula nos dá, finalmente, perspectivas de retomada da vida em um país minimamente normal. Essa reconstrução, porém, será difícil e demorada. E seu apoio, leitor, é ainda mais fundamental.
Portanto, se você é daqueles brasileiros que ainda valorizam e acreditam no bom jornalismo, ajude CartaCapital a seguir lutando. Contribua com o quanto puder.