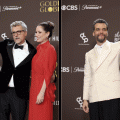Cultura
As cinzas que ainda perduram
80 anos após o fim da Segunda Guerra, um conjunto de autores oferece diferentes interpretações para o conflito
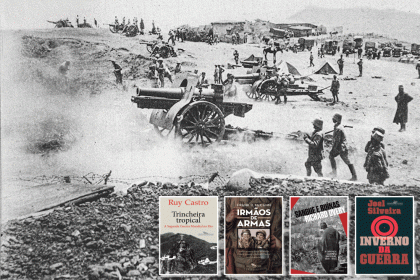
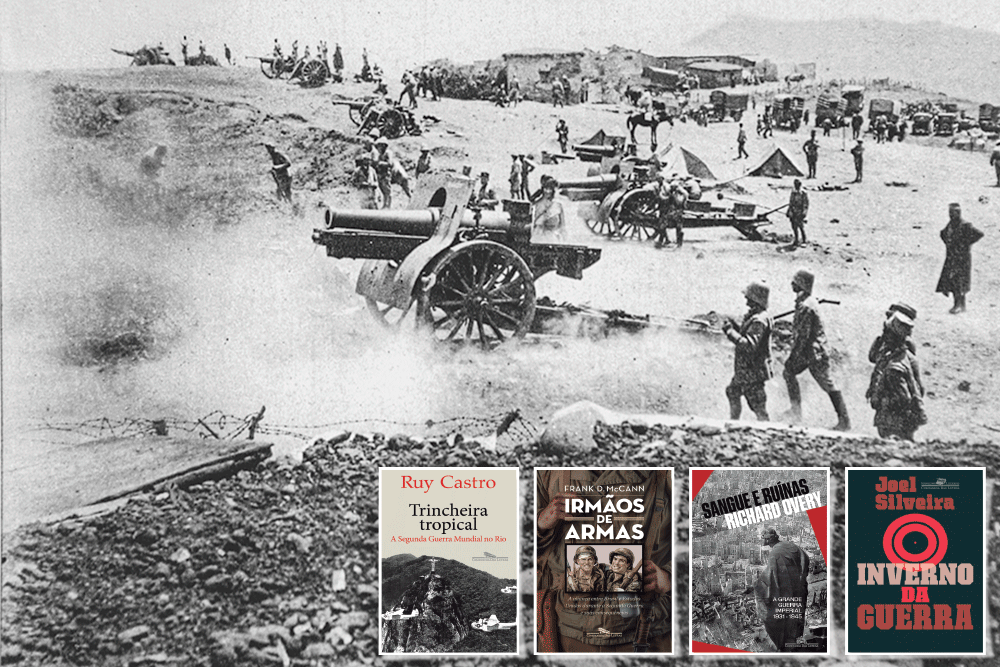
Encerrada oficialmente em 2 de setembro de 1945, com a assinatura da rendição japonesa após a detonação das bombas atômicas americanas em Hiroshima e Nagasaki, a Segunda Guerra Mundial teve consequências que moldariam o restante do século passado e o mundo contemporâneo. Agora, ela é revista sob novas luzes e interpretações, incluindo seu impacto no Brasil.
Sangue e Ruínas – A Grande Guerra Imperial 1931-1945 (Companhia das Letras, 1.136 págs., 259,90 reais), de Richard Overy, é um bom exemplo disso. Ao longo de mais de mil páginas, o historiador britânico sai do lugar-comum em definir a Segunda Guerra Mundial como um simples enfrentamento entre as forças do Eixo e países Aliados, ou de nações com ideologias diversas.
O que Overy faz é questionar por que esse conflito tão amplo, sangrento e destruidor ocorreu em um momento em que os grandes impérios globais estavam em um ponto de inflexão. Renomado e premiado por sua obra sobre as guerras mundiais, Overy prefere atribuir o conflito a fatores históricos e geopolíticos, com ênfase nos conflitos locais que estavam ocorrendo dentro da contenda mais ampla.
Para ele, Hitler, Mussolini e as Forças Armadas do Japão são apenas fruto de uma engrenagem maior e não causa do conflito. “Não é possível compreender bem as origens da guerra, o rumo que ela tomou e as consequências que produziu sem entender as forças históricas mais amplas que geraram anos de instabilidade política e internacional desde as primeiras décadas do século XX”, destaca.
Nas novas obras, o impacto do conflito sobre as nações periféricas, como o Brasil, ganha relevo
Com essa perspectiva, Overy descarta, inclusive, a cronologia convencional. Para ele, os combates começaram na China em 1931, quando o Japão invadiu a Manchúria. Não espere descrições detalhadas e uma narrativa centrada nos combates conhecidos.
O historiador concentra-se na exploração de temas menos debatidos, como a situação da ordem geopolítica global naquele início do século, com uma reordenação do poder no mundo por meio de uma luta entre os grandes impérios globais.
Novos competidores, como Japão, Alemanha e Itália, buscavam então expandir seus domínios em uma sanha por território e prestígio. O movimento era impulsionado por ditadores e tinha como alvo impérios estabelecidos, como Grã-Bretanha e França. Essa teria sido, para o autor, a última guerra entre impérios, o que a tradução em português mascarou (The Last Imperial War, no original em inglês).
Dos capítulos, três são dedicados a uma narrativa mais factual e os demais focam em análises de temas mais específicos, como economia, força de trabalho, militarização e cultura de cada personagem da trama, incluindo Estados Unidos e Rússia.
Overy dá atenção especial às justificativas morais usadas pelos governos para mobilizar combatentes e civis. “A busca pela vitória a todo custo era o cimento moral que mantinha o esforço de guerra unido. Tanto o Japão quanto a Alemanha justificaram suas guerras de agressão em termos de autodefesa contra o cerco das potências imperiais aliadas ou contra uma conspiração mundial judaica”, afirma ele.
 Mão forte. Atendendo a um chamado do governo, jovens lotaram o estádio de São Januário para louvar Getúlio que, já antes da guerra, era próximo da Alemanha – Imagem: Acervo Arquivo Nacional
Mão forte. Atendendo a um chamado do governo, jovens lotaram o estádio de São Januário para louvar Getúlio que, já antes da guerra, era próximo da Alemanha – Imagem: Acervo Arquivo Nacional
O historiador também expõe o “fiasco moral” dos Aliados em relação à perseguição aos judeus. Segundo ele, essa perseguição existia antes do conflito e “a reação ao Holocausto foi condicionada, acima de tudo, pela conveniência política e necessidade militar”. O Brasil é citado por Overy na passagem sobre o temor dos Estados Unidos de que a Alemanha anexasse ao seu império a expressiva comunidade alemã existente no País.
Esse tema está presente também – e de forma mais profunda – em Trincheira Tropical – A Segunda Guerra Mundial no Rio (Companhia das Letras, 448 págs., 109,90 reais), de Ruy Castro. Com uma prosa fluida e atraente, às vezes ferina, Castro traça um retrato detalhado da rede de intrigas existente na então capital federal, o Rio de Janeiro, sob o governo de Getúlio Vargas.
Tendo como pano de fundo o impacto da guerra no Rio, o autor amplia o espaço temporal do conflito. Para ele, seu início se dá em 1935, data da fundação da Aliança Nacional Libertadora (ANL), partido criado por uma junção de ideais democráticos para combater a expansão da Ação Integralista Brasileira (AIB), de extrema-direita.
Em um exemplo claro de que a história se repete, os membros da AIB eram anticomunistas, defensores da pátria, da tradição e da fé cristã, e tinham uma forma de cumprimento peculiar, inspirado no nazismo e no fascismo. Mas, em vez do Heil Hitler, exclamavam o tupiniquim Anauê!
A partir do embate entre AIB e ANL, além do Partido Comunista Brasileiro (PCB), Castro narra, com informações de bastidores e detalhes factuais, a mão forte de Vargas, truculento, em uma busca cada vez maior de poder.
A Constituição de 1934, a Intentona Comunista de 1935, o Estado Novo, a tentativa de golpe integralista de 1938, a entrada na guerra em 1939, tudo isso é visto de forma minuciosa, conforme Vargas ia obtendo mais poder.
O presidente costumava dizer que “a Constituição é como uma virgem: existe para ser violada”. E, num comportamento que iria repetir-se depois de 1939, durante a guerra de fato, acenava para todos os lados e acabava por escolher a si próprio.
Já antes da guerra, Vargas era bastante próximo da Alemanha, a ponto de a capital possuir um hangar exclusivo para os dirigíveis alemães – que sobrevive no Bairro de Santa Cruz e é usado como estacionamento de aviões – que traziam turistas, homens de negócio, militares e muitos espiões para o Brasil. A primeira-dama Darcy Vargas chegou a passar uma semana em Berlim, a convite do governo alemão, em 1937.
Além de capital, o Rio era o centro intelectual, cultural e diplomático do Brasil. Em meio a cassinos, os cariocas tinham acesso ao maior número de jornais, revistas, bares e teatros do País. A partir de 1939, o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) contribuiu para censurar um pouco de tudo.
Filmes que criticassem a Alemanha ou se referissem ao nazismo, como O Grande Ditador (1940), de Chaplin, não eram exibidos. Comandado por Lourival Fontes, o DIP contratava jornalistas da “esquerda” para produzir conteúdo jornalístico e, dessa forma, neutralizar as vozes dissidentes.
Castro mostra como a ambiguidade do ex-presidente levou o País a receber apoio financeiro dos EUA
Graciliano Ramos, Oswald de Andrade, Jorge Amado e Clarice Lispector foram alguns dos literatos a passar pela folha de pagamento do DIP. Além disso, os principais jornais recebiam uma mesada da agência de notícias alemã Transocean para publicar matérias de propaganda.
O então jovem Joel Silveira era um dos repórteres a ir buscar o envelope com dinheiro destinado à Diretrizes, revista comunista comandada por Samuel Wainer, que nunca ia retirar o dinheiro pessoalmente. Alguns anos depois, ele seria correspondente de guerra pelos Diários Associados. As experiências de Silveira, que foi para o front, na Itália, em 1944, com os pracinhas brasileiros, estão reunidas em O Inverno da Guerra (Companhia das Letras, 192 págs., 99,90 reais) relançado este mês.
Castro conta como uma ambiguidade planejada de Getúlio, ora namorando com os alemães, ora com os americanos, levou o Brasil a conquistar financiamentos expressivos e ajuda técnica dos EUA para instalação de um setor de siderurgia.
Graças à troca de gentilezas, Vargas chegou a ser capa da revista Time em agosto de 1940. Mesmo assim, o presidente declarou guerra ao Eixo apenas em 1942, após a morte de mais de mil brasileiros em ataques a navios.
Irmãos de Armas (Companhia das Letras, 344 págs., 119,90 reais) do brasilianista Frank D. McCann, é outro livro que analisa a fundo a aliança entre EUA e Brasil durante a Segunda Guerra Mundial e suas consequências. Com base em registros oficiais militares e diplomáticos, McCann revela a importância desse vínculo, que durou oficialmente até 1977, para a industrialização do País.
McCann também faz questão de lembrar que a parceria segue firme, citando como exemplo a participação de militares americanos em exercícios de treinamento na Amazônia, em 2017. •
Publicado na edição n° 1377 de CartaCapital, em 03 de setembro de 2025.
Este texto aparece na edição impressa de CartaCapital sob o título ‘As cinzas que ainda perduram’
Apoie o jornalismo que chama as coisas pelo nome
Depois de anos bicudos, voltamos a um Brasil minimamente normal. Este novo normal, contudo, segue repleto de incertezas. A ameaça bolsonarista persiste e os apetites do mercado e do Congresso continuam a pressionar o governo. Lá fora, o avanço global da extrema-direita e a brutalidade em Gaza e na Ucrânia arriscam implodir os frágeis alicerces da governança mundial.
CartaCapital não tem o apoio de bancos e fundações. Sobrevive, unicamente, da venda de anúncios e projetos e das contribuições de seus leitores. E seu apoio, leitor, é cada vez mais fundamental.
Não deixe a Carta parar. Se você valoriza o bom jornalismo, nos ajude a seguir lutando. Assine a edição semanal da revista ou contribua com o quanto puder.