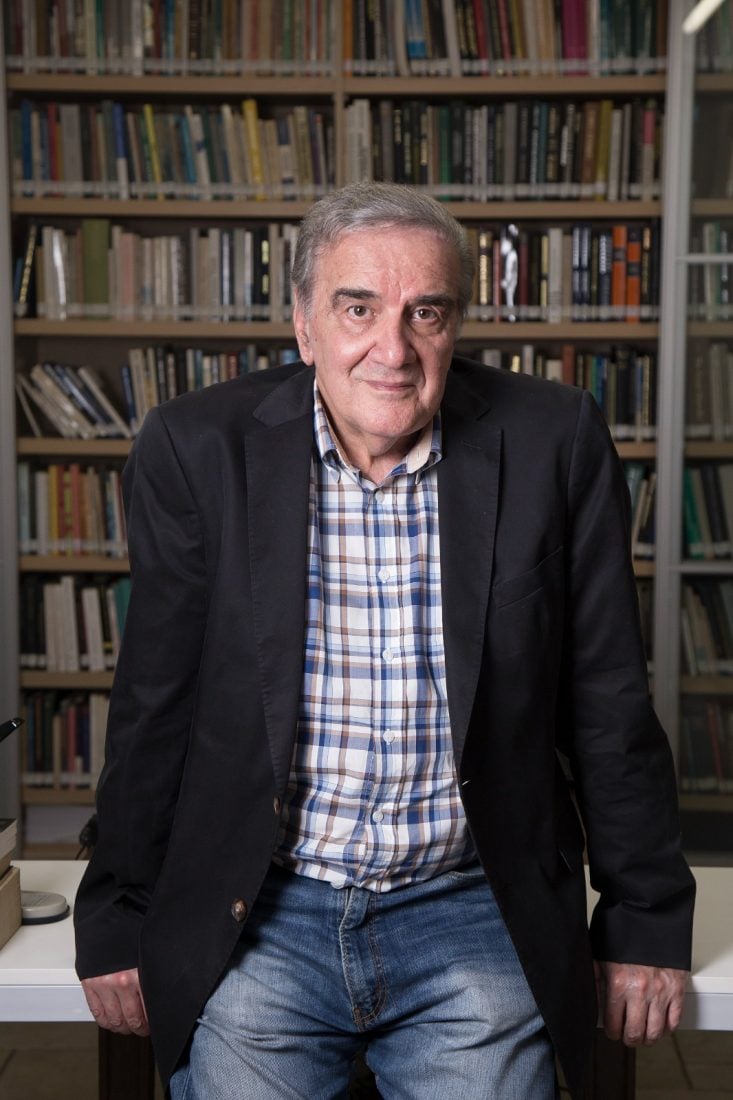Economia
Continuidade ou ruptura?
Não se pode dissociar uma frente democrática da necessidade de reestruturação do Estado


Os meses derradeiros e decisivos do ano eleitoral serão também o período de vigência das medidas da PEC Camicase. Apesar dos efeitos positivos sobre a atividade econômica no curto prazo, há certo consenso entre os analistas sobre a perversidade dessas políticas, pois não há garantia de continuidade dos benefícios em 2023, o que aumenta a incerteza, especialmente para os mais pobres.
A perversidade da PEC esconde, no entanto, uma questão ainda em aberto. Após o fim do “Orçamento de Guerra” em 2020, a economia brasileira recupera-se lentamente dos impactos da crise sanitária e ainda está imersa numa crise mais profunda, estrutural, desde 2014. A opção das autoridades econômicas, em 2021, pela “volta” ao teto de gastos e aumento da taxa de juros contribuiu decisivamente para o cenário de lenta recuperação acima descrito. Assim, se a PEC Camicase está longe de ser a solução para o fracasso das políticas recessivas, qual seria a melhor conduta do Estado neste cenário?
Um conjunto de economistas, por meio do documento Contribuições para um Governo Democrático e Progressista, defende uma série de reformas estruturais no Estado brasileiro, que incluem reforma tributária ampla, reforma administrativa, privatizações, reformas na seguridade social. Tais reformas implicariam uma redução de gastos obrigatórios, que permitiria, por sua vez, um programa de gastos especiais (na ordem de 1% do PIB), concentrados nas transferências de renda e na melhora da produtividade e da sustentabilidade. Assim, no limite, o aumento dos gastos discricionários estaria inserido no contexto do teto de gastos, com pequenas alterações para se permitir um aumento de gastos temporário.
Dessa forma, não se questionam profundamente o regime fiscal e seu impacto sobre a desestruturação do Estado, tampouco a incapacidade das reformas realizadas a partir de 2016 de reverter a crise estrutural da economia brasileira, iniciada em 2014. As propostas no documento representam, portanto, muito mais a continuidade da agenda de reformas neoliberais do que uma mudança substancial no direcionamento das ações do Estado.
Portanto, diante do consenso em torno da perversidade das medidas curtoprazistas e eleitoreiras, não se deve perder de vista a necessidade de ruptura do processo de desestruturação do Estado brasileiro, intensificado em 2016. Isso significa ir além da garantia de um programa de renda básica de longo prazo, lugar-comum de grande parte das propostas de economistas críticos ao governo, e avançar em direção à reestruturação do Estado. É fundamental, num momento de grande incerteza e encurtamento do horizonte temporal, que o Estado “assuma uma responsabilidade cada vez maior na organização direta dos investimentos”, como Keynes sentenciou no capítulo 12 da Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, ao constatar o caráter instável das expectativas de longo prazo no processo de decisão de investimento.
É preciso recuperar os marcos traçados pela Constituição de 1988
No caso brasileiro, essa responsabilidade envolve necessariamente uma mudança na correlação de forças com o setor privado em vários setores, especialmente o de petróleo. A reinserção da Petrobras em segmentos importantes da cadeia produtiva (distribuição e refinarias), a retomada dos investimentos conduzidos pela companhia e a mudança na política de preços dos combustíveis são condições necessárias para que o Estado recupere sua postura ativa e de coordenação num setor estratégico para a economia brasileira. A recuperação da Petrobras passa também pela retomada do papel do Estado no setor elétrico, especialmente por meio da Eletrobras (via compra de ações). Num contexto de transição energética, a integração entre Petrobras e Eletrobras é fundamental para a atração de investimentos em ESG, impulsionando a taxa de investimentos no longo prazo.
Além da expansão necessária dos investimentos públicos, que estão em seus menores níveis históricos, é necessário repensar também a alocação do orçamento para além da discussão da necessidade de se reduzirem os gastos obrigatórios. Nos últimos anos, parte crescente dos recursos fiscais tem sido alocada para setores específicos, como agropecuária e defesa, e para os encargos financeiros, em detrimento das áreas sociais, em especial educação, que diminuiu sua participação no total de despesas liquidadas de 5% em 2013 para 3% em 2021. Nesse contexto, as políticas sociais não podem se limitar ao discurso único do programa (focalizado) de renda básica e devem retomar a intersetorialidade.
As medidas fiscais devem ser coordenadas com a política monetária. De fato, a elevação das taxas de juro estadunidenses limita as possibilidades de redução expressiva da Selic, dada a dependência brasileira de fluxos de portfólio no seu balanço de pagamentos. O aperto monetário excessivo da autoridade monetária, sob a justificativa de se ancorarem as expectativas inflacionárias, deve, no entanto, ser questionado, pois a natureza do processo inflacionário brasileiro não está relacionada com uma pressão de demanda agregada. A combinação de taxas de juro menores com políticas creditícias que estimulem a redução dos spreads bancários, a diminuição do endividamento da população de baixa renda e o aumento do direcionamento do crédito é fundamental para reforçar os efeitos da política fiscal.
A coordenação da política macroeconômica passa ainda pela revisão da regulação financeira, especialmente da chamada Nova Lei Cambial, que aumenta a exposição dos agentes privados brasileiros ao risco de variação cambial, impulsionando a vulnerabilidade externa e ataques especulativos à moeda brasileira.
Não se pode dissociar a construção de uma frente democrática com a necessidade de reestruturação do Estado brasileiro e de recuperação dos marcos traçados na Constituição Cidadã de 1988. O desmonte do Estado, muitas vezes escondido em “reformas” pró-mercado, fomenta o discurso ultranacionalista e movimentos extremistas, impulsionados pelo aumento da desigualdade e desamparo social. Sem a ruptura desse processo, e consequente superação da crise econômica estrutural, estaremos sempre à sombra do bolsonarismo. •
* Saulo Abouchedid é professor de Economia Monetária das Faculdades de Campinas (Facamp).
PUBLICADO NA EDIÇÃO Nº 1226 DE CARTACAPITAL, EM 21 DE SETEMBRO DE 2022.
Apoie o jornalismo que chama as coisas pelo nome
Muita gente esqueceu o que escreveu, disse ou defendeu. Nós não. O compromisso de CartaCapital com os princípios do bom jornalismo permanece o mesmo.
O combate à desigualdade nos importa. A denúncia das injustiças importa. Importa uma democracia digna do nome. Importa o apego à verdade factual e a honestidade.
Estamos aqui, há mais de 30 anos, porque nos importamos. Como nossos fiéis leitores, CartaCapital segue atenta.
Se o bom jornalismo também importa para você, nos ajude a seguir lutando. Assine a edição semanal de CartaCapital ou contribua com o quanto puder.