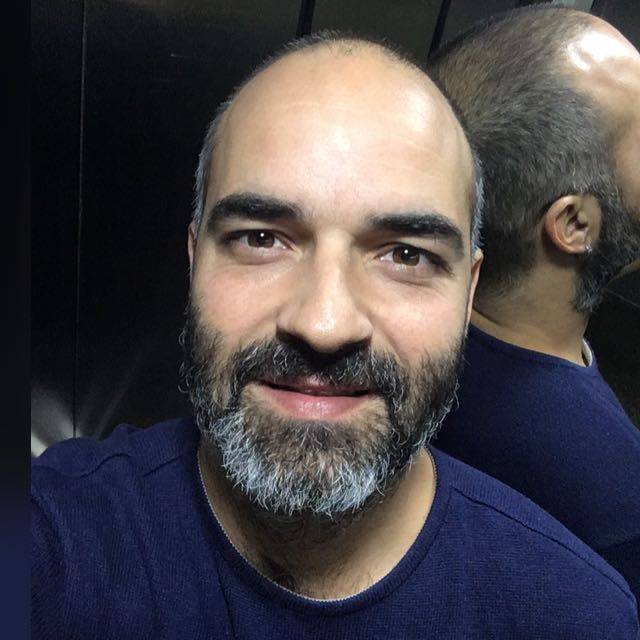Justiça
“É preciso decolonizar o Direito do Trabalho”
Convidada do seminário organizado pela Rede Lado, Flávia Máximo fala sobre a necessidade de ampliar horizontes das teorias que fundamentam a relação entre capital e trabalho

Nessa quinta-feira (25), será realizado, em São Paulo, o seminário “Os Fins da Justiça do Trabalho”, primeiro em formato presencial organizado pela Rede Lado. Oportunidade para refletir sobre o lugar, o dever, a ação e os interesses da magistratura e da advocacia trabalhista como atores sociais importantes na defesa dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros.
Os painéis do seminário serão compostos por advogadas e advogados, integrantes do Poder Judiciário, pessoas envolvidas com o Direito do Trabalho e pesquisadores que estudam o trabalho e seus desdobramentos e movimentos.
Uma das convidadas do evento, a professora da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop), Flávia Máximo, conversou com CartaCapital. Doutora em Direito do Trabalho, Flávia defende do debate da decolonialidade no Direito do Trabalho, especialmente no momento em que o País sente os danos de uma sequência de mudanças nas leis trabalhistas, iniciada pela reforma trabalhista de 2017.
Confira a entrevista:
CartaCapital – Sob a perspectiva decolonial, qual é o problema da América Latina ter importado a teoria jurídica-eurocêntrica?
Flávia Máximo – Raça e a masculinidade foram utilizadas como instrumento de colonização. Segundo Aníbal Quijano, sociólogo peruano responsável pela expressão ‘colonialidade do poder’, a especificidade da colonização das Américas foi a criação da raça fenotípica, ligada a traços físicos e cor da pele. Nos outros processos de colonização, a raça era ligada à etnia, à cultura, à religião. Foi aqui que a raça fenotípica foi utilizada como forma de classificar gente, em humanos e anti-humanos. Articulado a isso, houve uma divisão racial do trabalho.
Mas a doutrina trabalhista não se ateve à especificidade da formação racial e sexual das relações de trabalho no Brasil. A reprodução do trabalho livre e subordinado, que era aquele exercido pelo homem branco europeu, como centro epistêmico acabou sendo uma plataforma jurídica de continuidade para que esse sujeito permanecesse sempre protegido. Pesquisas do IBGE mostram que a mulher negra continua na base da pirâmide e o homem branco como protagonista das relações de emprego protegido. Essa é a crítica: não houve uma tradução decolonial de uma epistemologia protetiva do Direito do Trabalho para a realidade brasileira. Se a gente pega os principais manuais de Direito do Trabalho hoje – e essa é uma pesquisa desenvolvida pelo mestrando Guilherme Gonçalves, orientado por mim -, não tem nem a menção da palavra ‘negro’, ‘negra’, ‘negros’ e ‘negras’.
CC – A exclusiva associação da branquitude masculina com o trabalho livre, o emprego, o humano tem como consequência a legitimação da exclusão?
FM – Exatamente. Você tem esse contexto de colonialidade do poder que é ignorado por todos os ramos jurídicos, até pelo ramo que é considerado o mais subalterno do Direito, que é o Direito do Trabalho. Então, você tem um projeto de colonialidade do saber que mantém a teoria, importada do eurocentrismo, longe, distante da realidade dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras.
CC – É como se a história das relações trabalhistas do Brasil fosse uma contínua ‘uberização’, se é que podemos dizer assim?
FM – Sim. Isso é muito importante. O debate sobre ‘uberização’, que é esse contrato de trabalho atípico, ou uma relação de falsa autonomia, ou totalmente informal só ganhou relevância no mundo, porque atinge Europa e Estados Unidos. Mas nós, do sul global, nascemos na ‘uberização’. Nós vivemos, na concretude do cotidiano e da história, a ‘uberização’. A maioria da nossa força de trabalho sempre foi excluída da proteção jurídica da relação de emprego.
A centralidade do debate de ‘uberização’ é um reflexo da colonialidade do poder, porque atinge o norte global e a mão de obra masculina. Mesmo que a uberização atinja majoritariamente homens negros, as pessoas que controlam o conhecimento no Direito do Trabalho são em sua maioria homens brancos e isso se conecta à centralidade da masculinidade e da branquitude.
CC – No contexto do Direito do Trabalho como legitimador da colonialidade do poder, pode-se dizer que a PEC das Domésticas, aprovada em 2015, é um exemplo da insuficiência da legislação para proteger grupos historicamente invisibilizados?
FM – Com a Lei Complementar 150, de 2015, a gente vê que tem uma colonialidade de gênero, só pelo atraso da positivação na equalização de direitos do emprego urbano com o emprego doméstico. Qual é a razão jurídica de uma lei de emprego doméstico ter entrado em vigor só em 2015, e a CLT é de 1943? Não há explicação jurídica para essa letargia, para esse atraso. As explicações são culturais e históricas, e envolvem a colonialidade de gênero.
Atualmente, no Brasil, cerca de 92% das trabalhadoras domésticas são mulheres, e a maioria delas é negra. Isso mostra que não tem nada mais literal, em termos de divisão racial e sexual do trabalho da colonização se reproduzindo hoje, do que o trabalho doméstico.
CC – Poderia falar um pouco mais sobre como a crítica decolonial pode ir além da denúncia da cumplicidade do Direito do Trabalho com a lógica da colonialidade?
FM – Nós temos estratégias aliadas à expansão da relação de emprego e estratégias complementares à expansão da relação de emprego protegido. Aliadas à relação de emprego protegido você tem a estabilidade, no setor privado; você tem questões de democratização das relações de trabalho. Exemplo: grandes empresas, em que há conselhos de administração, dar duplo peso para os votos dos trabalhadores, quando confrontados com os acionistas. Esta é uma tese da Isabelle Ferreras, do Manifesto do Trabalho. Como trabalhadores vendem o seu corpo, uma vez que é impossível separar a força de trabalho do corpo, a força de trabalho seria o ativo em face das ações do Conselho de Administração. Há também, como falávamos, as questões de diversidade. É importante ter uma ouvidoria feminina em empresas que trate casos de assédio sexual e moral de forma transparente, externa. Questões de representatividade podem ser transformadas em tokenização, mas são importantes. Cotas de gênero em Conselhos Administrativos, cotas de raça.
CC – O que seria a tokenização?
FM – Tokenização é colocar uma pessoa que tem um marcador social subalterno, por exemplo, uma mulher, uma mulher negra, uma pessoa trans, numa posição de poder, para as pessoas acharem que existe ali uma política de diversidade, mas na verdade é só uma representatividade vazia, de uma pessoa isolada, para vender a vitrine de interseccionalidade, sem de fato existir uma política de diversidade estruturada.
CC – Nesse contexto, qual seria a importância do trabalho realizado pela Rede Lado?
FM – Primeiro, acho importante a própria existência da Rede Lado. Redes, hoje, sejam redes sindicais ou redes de escritórios que lutam por direitos sociais, são as mais adequadas formas de luta, uma vez que subvertem estruturas hierárquicas e vão além de um território físico. E hoje temos o mundo do trabalho, fundado em tecnologia, que não conhece barreiras físicas. Então, primeiro eu acho o método de atuação da Rede Lado extremamente importante. O que também engloba métodos de luta. Greves em que se pode ir além de uma categoria, um território, e interseccionais também. A Lado não é uma rede integrada só por homens brancos. E não é uma rede só do Sudeste e do Sul. Acho que o que eles estão produzindo, em termos de resistência, é um modelo para os outros escritórios. A Rede Lado está num caminho muito importante, de renovação de uma advocacia isolada, narcisística, que não constrói junto. Falo isso para os meus alunos: pesquisa é construção coletiva, luta é construção coletiva. Então, acho que a Rede Lado está muito bem situada.
CC – Como criar pontes entre pesquisa e prática, atuando para uma refundação do nosso sistema econômico e social, diante de um Congresso Nacional como o atual?
FM – Vou responder por partes, por instituições. Nas universidades públicas, acho que temos de começar a focar mais em extensão. É a extensão que vai fazer a ponte epistêmica entre teoria e prática. Temos um sistema produtivista acadêmico que valoriza só pesquisa. O Lattes valoriza um artigo ‘A1’ muito mais do que dez anos de projetos em comunidades. Isso também é um mecanismo de colonialidade do poder, para manter um conhecimento transformador circulando entre os mesmos sujeitos e sujeitas. A extensão rompe com esse capital cultural e leva esse conhecimento transformador para a comunidade.
No Judiciário, assim como no Congresso Nacional, sou a favor de ações afirmativas de gênero e raça. Não estou falando só de registro da candidatura. Falo de ações afirmativas efetivas que instaurem paridade de gênero e raça nas Casas do Legislativo e no Judiciário. O Judiciário já vem colocando cotas na entrada, mas isso ainda não se reflete na composição das relações internas de poder. Existem pesquisas do CNJ que mostram que, na Justiça do Trabalho, são cerca de 2% de mulheres negras juízas, e, conforme pesquisas minhas e do professor Pedro Nicoli, todas no cargo de juíza substituta somente. Ou seja, existe essa disparidade, da pessoa que faz a lei, que aplica a lei, que vive em um corpo hegemônico, e que não é sensível a opressões dissidentes. Um mecanismo forte, além da mudança de conhecimento nas Universidades e da extensão, portanto, são as ações afirmativas efetivas. A presença física de corpos dissidentes é necessária para que haja decisões contra-hegemônicas.
CC – O que seriam opressões dissidentes?
FM – ‘Dissidente’ vem do latim. É ‘aquele que senta do outro lado’. A gente tem uma produção de conhecimento do direito que sempre refletiu matrizes hegemônicas. E quando fala-se em dissidência pretende-se sentar do outro lado das produções de conhecimento que foram taxadas de militantes, exóticas, folclóricas, ingênuas, místicas, e considerá-las científicas. Falar de ‘dissidente’ é falar de produções da teoria racial crítica, da teoria queer, das teorias feministas, teorias decoloniais que sempre foram consideradas subalternas, pré-paradigmáticas, não científicas, e introjetá-las na produção de conhecimento jurídico. Então, ‘opressões dissidentes’ diz respeito a todas as pessoas que vivenciam essas subalternidades que não são contempladas pela teoria hegemônica: gênero, raça, classe, origem – no caso da decolonialidade.
CC – Dependendo da categoria, com maior ou menor exclusão…
FM – Isso é muito importante, porque quando se fala de gênero, raça, classe, identidade de gênero, deficiência, não se pode ter uma ideia de que são opressões equânimes que atuam de forma separada. É por isso que a gente utiliza a interseccionalidade. O sujeito trabalhador, a mulher, não é um sujeito homogêneo. Existem pluralidades e opressões que podem recair sobre um mesmo sujeito. É preciso utilizar a interseccionalidade para trabalhar a sobreposição dessas opressões dissidentes, mas também entender que essas opressões não atuam de forma equânime. Eu não quero hierarquizar sofrimento ou algo do tipo, mas, por exemplo: sou lida como uma mulher branca, no Brasil, no sentido de que raça nunca foi motivo de opressão, e sim de privilégio; isso em termos fenotípicos. Porém, quando vou falar, sou interrompida, ou explicam algo que eu já sei, ou usurpam minhas ideias. Uma pessoa negra não chega a falar. Ela nem entra no prédio. Então, temos de entender e situar cada opressão dissidente, porque elas não são equalizadas. As pessoas citam como se fosse uma lista de opressões, achando que ocorrem da mesma forma. E não ocorrem.
CC – Sobre os sindicatos, qual o papel deles nesse processo de busca por mudanças? É preciso abrir outras vias de representação?
FM – Sindicatos são centrais em qualquer tipo de mudança. Não há como fazer uma mudança sem os sindicatos. Só é possível com eles. Mas a gente sabe que o sindicato – a maioria deles, porque eu acho que está havendo uma transformação recente – é uma instituição que responde a um projeto de conhecimento moderno, muito homogêneo, ainda focado no sujeito trabalhador. Muitas mulheres são oprimidas dentro do sindicato. É uma estrutura hierárquica masculinizada, que não tem protagonismo em pautas de raça, de gênero, de orientação sexual. Apesar de, como eu disse, existirem sindicatos, principalmente na área de telemarketing, que estão subvertendo a concepção homogênea de sujeito trabalhador. Acho que a mudança não virá sem os sindicatos. Mas não virá só com eles. É necessário outras formas de representação e de integração dos movimentos sociais. Hoje, o poder das greves interseccionais feministas, o impacto na mídia e na pressão, é muito maior do que o poder de uma greve organizada pelo sindicato. É necessário, então, fazer essa ponte. E está começando. Mas ainda tem muito chão pela frente.
CC – Como funcionam as greves interseccionais feministas?
FM – A maioria das greves é focada no trabalho produtivo, entendido como o único que gera mais-valia, ganhando, portanto, centralidade no Direito do Trabalho. A maioria das greves ainda é restrita a um modelo moderno de interrupção do trabalho; um modelo que, no capitalismo tecnológico contemporâneo, já não é mais tão eficaz. Existem as greves interseccionais feministas, e aí a gente tem como grande exemplo as greves do 8 de Março, que começaram em 2017 contra as políticas de Donald Trump, mas que se espalharam pelo mundo inteiro; essas greves têm a potência de juntar o trabalho produtivo com o reprodutivo gratuito.
Não afetam somente o ritmo de trabalho normal nas indústrias e empresas, mas também dentro de casa. Essas greves têm o poder não só de serem anti-capitalistas. São contra o patriarcado, contra o racismo estrutural, a LGBTQIfobia, o capacitismo. E focam em várias modalidades de exercício, que vão desde a arte, com grafites, flash mob, à ocupação de lugares públicos, boicotes de consumo. Enfim, mecanismos complementares à greve como ela foi concebida na modernidade.
CC – Podemos dizer que a concepção “clássica” de greve está ultrapassada?
FM – Esses novos movimentos, muitas vezes, não têm uma adesão sindical. E, no Brasil, pela Lei de Greve, quem detém a prerrogativa de declarar greve é o sindicato. Houve aqui uma sindicalização do direito de greve. Então, acho que esse é um ponto que precisa ser dialogado para aumentar a potência de movimentos de luta coletiva. O tipo de greve que interrompe o trabalho, feito pelo sindicato, é algo já completamente absorvido pelo sistema. Não gera nenhum dano político significativo. Portanto, acho que esse diálogo é necessário no sindicato.
CC – Como você vê um governo que comemora o aumento no número de trabalhadores informais?
FM – A própria reforma trabalhista, de 2017, abriu caminho para um tipo de comemoração de geração de trabalho precário e mortificante. Essa reforma trabalhista foi mais perversa. Ao criar o trabalho intermitente, por exemplo, em que há o reconhecimento do vínculo de emprego, mas não a proteção, a mídia publicava estatísticas que mostravam a geração de trabalho com carteira assinada. Mas eram trabalhos precários. Não tem nada mais violento do que não ter nem a garantia de um salário mínimo no final do mês, como acontece no trabalho intermitente.
E sabemos que a precarização e a informalidade atingem predominantemente trabalhadores negros e negras. Então, temos um capitalismo racial, racista, em termos de necropolítica, pregado pelo governo Bolsonaro. Além de ser uma questão de perversidade e de legitimação de um capitalismo racista, esse governo ameaça eleições, desrespeita tribunais. Acredito que, independentemente de posições políticas, há um consenso de que esse governo age fora das regras mínimas de um jogo democrático, reforçando a colonialidade do poder.
Apoie o jornalismo que chama as coisas pelo nome
Os Brasis divididos pelo bolsonarismo vivem, pensam e se informam em universos paralelos. A vitória de Lula nos dá, finalmente, perspectivas de retomada da vida em um país minimamente normal. Essa reconstrução, porém, será difícil e demorada. E seu apoio, leitor, é ainda mais fundamental.
Portanto, se você é daqueles brasileiros que ainda valorizam e acreditam no bom jornalismo, ajude CartaCapital a seguir lutando. Contribua com o quanto puder.