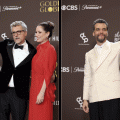Cultura
De toda gente
Os museus comunitários, cada vez mais comuns, valorizam os territórios onde estão e alteram o olhar para a arte


A caminhada da historiadora Cláudia Ribeiro da Silva foi longa até que ela chegasse ao Museu da Maré. De registros da história do bairro da Zona Norte do Rio feitos pela tevê local nos anos 1980, passando pelo cursinho pré-vestibular, por uma rede de memória e uma casa de cultura, o trajeto foi pavimentado, sobretudo, pelo olhar cuidadoso para o território.
Nascida na Maré, Zona Norte do Rio, Cláudia Ribeiro da Silva, coordenadora do museu, está nesse sonho há muito tempo. “Percebemos que trabalhar a história local era importante para criar identificação”, diz ela. “Foi o sentimento de pertencimento que deu origem à instituição.”
A história do espaço remonta ao início dos anos 2000, quando o Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré recebeu em comodato um antigo galpão naval na parte baixa do bairro. O Centro decidiu levar para o espaço mostras e ações culturais desenvolvidas em projetos já existentes na comunidade. A população, então, começou a dizer: “Vamos ao museu!”
O Instituto Tomie Ohtake e o Sesc Belenzinho exibem, neste momento, obras desses espaços
“As pessoas diziam: ‘A gente lutou tanto para ter água encanada, creche, agora só faltava um museu’. Foi quando esse projeto surgiu como possibilidade”, lembra Cláudia. “A gente deixou de ser objeto de pesquisa e passou a ser sujeito. E quando a gente traz essa memória local para o museu, podemos compartilhá-la com pessoas de muitos lugares, reduzindo também o risco de que ela se perca.”
Inaugurado em 2008, com apoio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o Museu da Maré, que reúne exposições, contação de histórias e acervo de memória, é hoje bem menos solitário do que quando nasceu.
Ele faz parte de uma rede de mais de 300 museus comunitários que cresce pelo País e que, além de ressignificar o sentido do que é um museu para as populações locais, vem alimentando mostras e exposições realizadas por grandes instituições culturais paulistas, como Dos Brasis, em cartaz no Sesc Belenzinho, e Ensaios para o Museu das Origens, dividida entre o Itaú Cultural e o Instituto Tomie Ohtake.
 Casa e escola. O Acervo da Laje foi criado no Subúrbio Ferroviário de Salvador – Imagem: José Eduardo/Acervo da Laje
Casa e escola. O Acervo da Laje foi criado no Subúrbio Ferroviário de Salvador – Imagem: José Eduardo/Acervo da Laje
Ensaios para o Museu das Origens reúne histórias e objetos de locais como o Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos (Muquifu), em Belo Horizonte, e a Comunidade Cultural Quilombaque, na região de Perus, em São Paulo. Em cartaz até janeiro de 2024, a exposição inspira-se em uma proposta feita em 1978 pelo crítico de arte Mário Pedrosa (1900-1981), que, nas palavras do curador Paulo Miyada, tinha a crença “de que a arte importa na medida em que ela é uma expressão de comunidade, coletiva”.
“Quando a gente pensou nesse projeto, fomos atrás de conversar com lugares de memórias, onde o público principal é a comunidade”, diz Miyada. “Isso passa pelo redesenho de instituições criadas há muito tempo e passa por lugares que têm sido construídos pelas pessoas como expressão da vontade de contar suas histórias.”
É esse também o caso do Acervo da Laje, espaço de memória artística criado em 2011 no Subúrbio Ferroviário de Salvador, representado na mostra Dos Brasis. Instalado em um sobrado no bairro de São João do Cabrito, o Acervo da Laje tem fervilhado. Casa-museu-escola, que faz sessões de cinema e recebe projetos educativos, o local expõe telas e esculturas assim como placas e pipas. Quando ocupa outros espaços, disputa não só estéticas, mas também formas de atuar no campo das artes.
“Com o território, aprendemos a viver e a ter esperança”, dizem os criadores do Acervo da Laje
“A gente se constitui como um espaço de pesquisa, curadoria, criação, aquisição de obras, ações educativas, e tudo isso se reflete no diálogo com curadorias de grandes exposições. Esse respeito não repete práticas coloniais, mas potencializa espaços periféricos”, contam José Eduardo Ferreira Santos e Vilma Santos, moradores São de João do Cabrito e idealizadores da iniciativa.
Os projetos ligados à museologia social inserem-se, quase sempre, em processos como aqueles descritos por Cláudia Ribeiro da Silva. E o que é chave nesse processo? Que o território ocupa lugar central na concepção dos museus. Esses espaços não apenas não podem ser alheios ao lugar em que estão, como têm de fazer sentido na vida daqueles que são detentores dos saberes expostos ali. “A gente sai desse lugar do corpo estranho quando pensamos em um instrumento de preservação coletivo”, diz o museólogo Lucas Almeida.
Almeida trabalha hoje na Capela dos Aflitos, local que visitava quando criança com sua avó, e que está no coração da implementação do Museu de Território dos Aflitos, que será um espaço cultural dedicado à população negra e indígena do bairro da Liberdade, em São Paulo, e à memória da escravidão e do tráfico transatlântico no Brasil.
“O (lavrador e pensador quilombola) Nego Bispo traz a ideia de como se transforma um instrumento colonial em contracolonial”, diz Almeida, um dos envolvidos no desenvolvimento do plano museológico do espaço na Liberdade. “(O museu) era uma ferramenta que estava virada para engatilhar em mim, e eu engatilhei no Estado. Esse projeto dá dignidade à nossa história e à nossa memória.”
O Museu de Território dos Aflitos nasce de uma mobilização da sociedade civil após a descoberta, em 2018, de ossadas nesse lugar que abrigou o primeiro cemitério público paulistano, e tem buscado diálogo com o governo para se tornar uma política pública. A realidade dos museus comunitários é que, quase sempre, têm de se manter sem apoio fixo de governos locais.
 Em ação. O Museu da Maré e o Museu dos Quilombos e Favelas, de BH, que fez uma intervenção no Shopping Higienópolis, têm ganhado visibilidade – Imagem: Museu da Maré e Antoine Horenbeek/Catalytic Communities
Em ação. O Museu da Maré e o Museu dos Quilombos e Favelas, de BH, que fez uma intervenção no Shopping Higienópolis, têm ganhado visibilidade – Imagem: Museu da Maré e Antoine Horenbeek/Catalytic Communities
O Museu Jenipapo-Kanindé, na Comunidade Lagoa da Encantada, em Aquiraz, no Ceará, por exemplo, convive desde a sua criação, em 2010, com a inconstância financeira comum às instituições que dependem de editais para se manter. “Os desafios que temos são os mesmos de todos os museus indígenas: conseguir espaço adequado para os nossos acervos”, pontua a museóloga Nyela Jenipapo.
Em 2009, Nyela fez parte de um grupo de 26 crianças da comunidade que participaram de um projeto que deu origem ao museu. “Foi ali que vi despertar em mim a vontade de estudar museologia”, conta. Seu tio, Eraldo Alves, coordena o espaço, pensado em cinco eixos: luta e movimento indígena, guardiões da história do povo Jenipapo, lugar de memória, modo de fazer e festas.
“O museu transformou-se em um elo. Por meio desse espaço, nós, enquanto geração mais nova, buscamos conhecer melhor a história de guardiões que iniciaram o processo de luta e reconhecimento da nossa cultura”, diz Nyela.
É um pouco do que dizem também os criadores do Acervo da Laje: “Com o território, aprendemos continuamente a viver e elaborar formas de promover o encontro com as nossas memórias. Aprendemos a ter esperança”. •
Publicado na edição n° 1284 de CartaCapital, em 08 de novembro de 2023.
Este texto aparece na edição impressa de CartaCapital sob o título ‘De toda gente’
Apoie o jornalismo que chama as coisas pelo nome
Depois de anos bicudos, voltamos a um Brasil minimamente normal. Este novo normal, contudo, segue repleto de incertezas. A ameaça bolsonarista persiste e os apetites do mercado e do Congresso continuam a pressionar o governo. Lá fora, o avanço global da extrema-direita e a brutalidade em Gaza e na Ucrânia arriscam implodir os frágeis alicerces da governança mundial.
CartaCapital não tem o apoio de bancos e fundações. Sobrevive, unicamente, da venda de anúncios e projetos e das contribuições de seus leitores. E seu apoio, leitor, é cada vez mais fundamental.
Não deixe a Carta parar. Se você valoriza o bom jornalismo, nos ajude a seguir lutando. Assine a edição semanal da revista ou contribua com o quanto puder.