Sustentabilidade
Veias abertas
Indígenas e ribeirinhos do Xingu temem as ações do Congresso para acelerar projetos na Amazônia
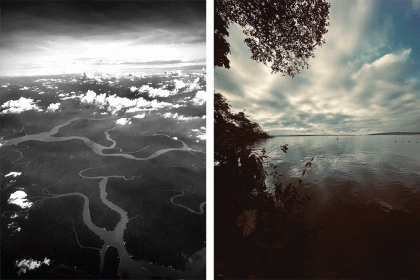

Os indígenas da região do Rio Xingu estão preocupados. Depois de uma década submetidos aos impactos sociais, humanitários e culturais da usina hidrelétrica de Belo Monte, o temor das comunidades é de que o abalo pode ser intensificado ainda mais nos próximos anos, caso o lobby de mineradoras e do agronegócio resulte na maior flexibilização das leis ambientais pelo Congresso. A reportagem de CartaCapital esteve na região de Altamira, no Pará, e constatou a apreensão dos indígenas de que a ofensiva ruralista no Legislativo marginalize ainda mais os povos tradicionais das decisões sobre os rumos ambientais do País e abra as portas para a exploração de seus territórios.
No início de agosto, o presidente Lula vetou 15% dos quase 400 dispositivos do Projeto de Lei sobre o licenciamento ambiental, chamado pelos ecologistas de “PL da Devastação” e denunciado pelas Nações Unidas como exemplo acabado de retrocesso. Mas os riscos não desapareceram. Como aconteceu recentemente em outros casos, os vetos presidenciais correm risco de ser revertidos por deputados e senadores, caso o conluio entre as bancadas do Boi, da Bala e da Bíblia volte a vigorar.
A milhares de quilômetros dos corredores dos gabinetes do Parlamento, a sensação nas comunidades indígenas é de que o pior ainda pode estar por vir. “Se, com as atuais leis, nós já temos problemas para sermos ouvidos, imagine se houver um processo ainda mais acelerado de aprovação de projetos”, lamenta Josiel Pereira Juruna, um dos líderes da aldeia Muratu, na Terra Paquiçamba. Pereira, que vive no epicentro do dano causado por Belo Monte, na Volta Grande do Xingu, alerta: caso haja um desmonte ainda maior das leis ambientais, “os impactos serão irreversíveis”.
“O rio era meu pai e minha mãe”, diz Raimundo Gomes
Para Luís Ventura, secretário-executivo do Conselho Indigenista Missionário, a lei não pode ser vista de forma isolada. A aprovação no Congresso do PL 2159, diz ele, é “mais uma evidência dos interesses econômicos que governam a atuação dos parlamentares no Poder Legislativo”. Interesses de determinados setores econômicos, dentre eles com claro destaque o agronegócio e a mineração. “A ofensiva consiste em abrir os territórios protegidos, e particularmente os territórios indígenas, à exploração econômica de terceiros, à expansão das grandes frentes agropecuárias e de exploração do solo e subsolo”, acrescenta.
O Cimi comemorou o veto de Lula a mais de 60 dispositivos do PL. Os integrantes da entidade acreditam, porém, ser preciso aguardar a reação do Congresso. “Os vetos amenizam alguns dos principais riscos e excluem pontos importantes. No nosso entendimento, não é, porém, suficiente.” Para Ventura, é fundamental compreender a flexibilização das normas ambientais no contexto de uma ofensiva maior, sistemática e permanente, que no caso dos direitos indígenas teve como detonador a aprovação do Marco Temporal em 2023.
Outro alerta no Xingu refere-se à aprovação na Comissão de Direitos Humanos do Senado do PL 6050, que pretende abrir os territórios indígenas à exploração da mineração, dos hidrocarbonetos e do potencial energético das fontes de água. Tanto as entidades quanto os indígenas alertam para a designação de projetos como estratégicos, uma espécie de mecanismo para fugir de um processo mais amplo de consultas à população local. “O Brasil tem na história recente exemplos de projetos que, considerados estratégicos na época, alteraram para sempre a vida e o ambiente de povos e comunidades, como o caso de Belo Monte, geraram medidas cautelares no campo do direito internacional e não obtiveram sequer o resultado econômico esperado.” A lista não é pequena e inclui o asfaltamento da BR-319, a construção da Ferrogrão e a exploração de potássio nos territórios do povo Mura. “Todos eles trazem graves impactos aos direitos dos povos que habitam esses territórios.” O que muitos temem é que, nessa guinada liderada por mineradoras e o agronegócio, o direito à consulta prévia, livre e informada seja enfraquecido.
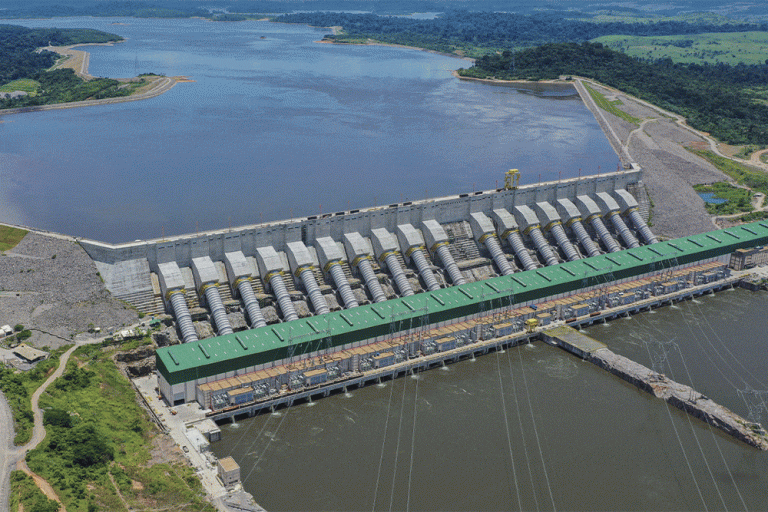 As compensações financeiras pagas pela administradora da hidrelétrica não compensaram. Abaixo, à esquerda, deputados celebram a flexibilização das leis ambientais – Imagem: UHE Belo Monte/MME, Jamil Chade e Lula Marques/Agência Brasil
As compensações financeiras pagas pela administradora da hidrelétrica não compensaram. Abaixo, à esquerda, deputados celebram a flexibilização das leis ambientais – Imagem: UHE Belo Monte/MME, Jamil Chade e Lula Marques/Agência Brasil
Na aldeia Muratu, Josiel Pereira insiste que o impacto será para todos. “Líderes não entendem que, ao prejudicar um rio, eles se prejudicam também. Eles acham que não sentirão o impacto. Mas um dia chegará. Hoje somos nós que somos afetados. Mas nós temos para onde fugir. Eles não. Um dia a conta chega para eles.”
O pessimismo tem razão de ser. A vida de Pereira e dos seus foi totalmente modificada pelos impactos de uma obra que completa uma década. Belo Monte teve a construção iniciada em 2011. A inauguração ocorreu em 2016 e, em 2019, a 18ª turbina entrou em funcionamento. A empresa alega produzir 6% da energia do País e que cada turbina tem o potencial de toda a usina nuclear de Angra 1. Belo Monte foi uma das prioridades do PAC e, em 2010, o Ibama autorizou a obra de 19 bilhões de reais. O que se ergueu sobre o Rio Xingu foi uma das maiores hidrelétricas do mundo, com 11,2 mil megawatts de capacidade instalada. A construção alterou, no entanto, o curso natural do rio, inundou áreas, secou outras, deslocou moradores das margens e provocou a morte de espécies da flora e da fauna local. Josiel Pereira mostra o tronco que marcava o nível da água que o Xingu alcançava antes da construção de Belo Monte. Segundo ele, a usina não apenas desviou o rio, como também secou vidas e culturas.
Indígenas viram a intensificação da invasão de madeireiros ilegais nos territórios e a mudança nos rios e reclamam da falta de assistência da Norte Energia, concessionária que administra Belo Monte, e do Poder Público, que prometeu diálogo, mas, segundo eles, nunca o fez. Uma situação ainda mais grave viveria a população ribeirinha, cujas vidas foram desestruturadas.
 O cemitério de árvores em um trecho inundado por Belo Monte. Os pássaros, antes abundantes, desapareceram desse trecho do Rio Xingu – Imagem: Jamil Chade
O cemitério de árvores em um trecho inundado por Belo Monte. Os pássaros, antes abundantes, desapareceram desse trecho do Rio Xingu – Imagem: Jamil Chade
“Os impactos são avassaladores, principalmente do ponto de vista cultural e territorial das etnias”, disse Lili Chipaia, educadora e chefe da divisão de educação escolar indígena do município de Altamira. “Belo Monte significa violação de direitos e desestruturação étnico-cultural.”
Um dos efeitos foi a divisão das aldeias e dos grupos indígenas, com famílias que abandonaram um local para formar uma nova aglomeração. Se, por séculos, etnias se dividiam por motivos de superpopulação ou para garantir a proteção do território, hoje o movimento é de outra natureza. “A divisão é resultado do assistencialismo que Belo Monte ofereceu e que é uma estratégia para enfraquecer cada um dos grupos”, acredita Chipaia. A Terra Indígena Trincheira/Bacajá é um retrato da situação. Antes de Belo Monte existiam três aldeias do povo Xikrin. Hoje, são cerca de 50.
Os registros de desestruturação constam dos informes oficiais do Ibama. Em um deles, de 2023, o instituto afirma: “O modo de vida local, que inclui as atividades de pesca e navegação, foi prejudicado pelas alterações no ciclo de águas do Rio Xingu, com as vazões operadas pelo empreendimento Usina de Belo Monte, tanto pela extensão artificial do período de seca, que torna arriscada a navegação, quanto pela redução de vazão na enchente, cheia e vazante que tem inviabilizado a maior parte dos ecossistemas de piracema, dos quais os indígenas dependem para a continuidade da pesca, incluindo a transmissão do saber fazer da pesca de geração para geração, que tem base nestes territórios”. Os técnicos registraram “as dificuldades enfrentadas pela população indígena e ribeirinha” diante dos impactos socioambientais decorrentes da redução de vazão do Rio Xingu, entre eles o aumento da taxa de mortalidade de algumas espécies da vegetação pioneiras e das áreas secas de piracemas.
Em Altamira, onde se ergueu um bairro para os deslocados, a taxa de homicídio aumentou em 1.100% entre 2000 e 2015
A licença ambiental do Ibama para o funcionamento da usina está atrasada desde 2021 e no centro do debate está a guerra pela água. Os movimentos sociais pedem a construção de um hidrograma que permita salvar as piracemas e, portanto, a vida no rio, principalmente nas áreas de igapó. Se o projeto original de 1975 era muito maior que o atual, o barramento do Xingu gerou a interrupção do fluxo natural, com um impacto social e ambiental de profundas proporções. Apenas entre 2012 e 2013, mais de mil toneladas de explosivos foram detonadas na obra.
Como forma de compensar o impacto, a empresa que lidera o empreendimento criou mais de cem projetos de mitigação. Mas, para ribeirinhos, indígenas, pescadores e população das cidades na região, nada será como antes. E, segundo os ambientalistas, apesar dos projetos, a cicatriz transformou a região no cenário que o restante da Amazônia teme um dia viver: a seca dos rios, a morte de dezenas de espécies, a transformação social e ambiental que muitos consideram como irreversível.
Josiel Pereira logo entendeu que não encontraria mais peixes para garantir a sobrevivência da comunidade. Como parte do programa de mitigação, passou a plantar cacau na aldeia. Ele mostra, com orgulho, a nova atividade econômica. O líder juruna compra mudas por 6 reais e vende um quilo de cacau por 40. Acabou, porém, surpreendido por algo inesperado, a invasão de macacos que roubam e comem o cacau. Sem alternativa, viu-se obrigado a colocar uma cerca elétrica para proteger sua produção, em plena floresta.
Há uma necessidade, diz Pereira, de a comunidade, diante das transformações, reassumir um papel central na definição do próprio destino. Uma das maneiras é produzir evidências do impacto ambiental das obras no Rio Xingu. E ele é, de fato, um dos protagonistas do Monitoramento Ambiental Territorial Independente, rede criada por indígenas, pescadores e cientistas para propor um regime de águas que permita a continuidade das piracemas e evite um ecocídio. “Notamos que os impactos não apareciam nos relatórios oficiais, por isso começamos nosso monitoramento.”
 Gomes não tira mais o sustento das águas. “Foi a morte das nossas vidas”, lamenta – Imagem: Jamil Chade
Gomes não tira mais o sustento das águas. “Foi a morte das nossas vidas”, lamenta – Imagem: Jamil Chade
O primeiro levantamento tratou da alimentação. Os técnicos constataram que, antes da usina, 80% dos suprimentos para as aldeias vinham do rio. Depois, 70% passaram a vir da cidade. Em seguida, o grupo passou a monitorar os peixes e sua reprodução. “Percorríamos o rio pela noite e víamos que não havia mais certos espécimes. Algo estava errado.” Os levantamentos constataram também a queda na reprodução dos peixes, os efeitos sobre os igarapés e o amadurecimento precoce das frutas. “Algumas espécies antes consumidas não existem mais. Conseguimos mostrar que existem peixes com má-formação.” A navegação também foi afetada. “Certos pontos de pesca, nós perdemos. Houve ainda uma perda cultural. Certas coisas que aprendemos hoje não existem mais. Não temos mais como ensinar, pois não existe esse ambiente.”
O ribeirinho Raimundo Braga Gomes chegou à mesma conclusão. “O rio era meu pai e minha mãe. Hoje, tudo acabou”, queixa-se, enquanto pilota uma voadeira até o cemitério de árvores inundadas pelo Xingu. Gomes e centenas de outros moradores de Volta Grande foram obrigados a sair de casa para dar lugar às obras de Belo Monte. Pescador entre 1977 e 2012, o ribeirinho diz que não só os peixes sumiram. Sua vida, como conhecia, desapareceu.
O deslocamento forçado não foi apenas uma medida administrativa. Ele instalou o medo na população e promoveu o desaparecimento de comunidades inteiras. As indenizações não compensaram as perdas. “Do que adianta a indenização?”, pergunta Gomes. “O rio acabou para sempre. Foi a morte de nossas vidas.”
Os paliteiros formam um estranho “cemitério da floresta”. A área alagada pela barragem tornou-se um monumento à morte. “Antes, aqui era a coisa mais bonita que existia”, relembra. “Nem pássaro mais voa sobre o rio. Vai comer o quê?” A imagem desoladora do ribeirinho refletida nas águas prateadas no fim do dia espelha a realidade de toda a comunidade.
Em março, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou o repasse de 100% do pagamento antes feito à União pela concessionária Belo Monte às comunidades locais. “Não resta dúvida de que os Povos Indígenas são titulares do direito à participação nos resultados da exploração de recursos hídricos e da lavra de minerais que ocorram ou repercutam diretamente em suas terras”, anotou o magistrado. Os grupos dizem, porém, que o valor, quando eventualmente começar a ser depositado, não passará de 1,5 mil reais anuais por família. Uma migalha, reclamam.
No Xingu, o que não faltam são vítimas. Para realocar milhares de moradores expulsos de suas casas, a Norte Energia ergueu bairros na periferia de Altamira. Ocupações artificiais, cujas ruas não levavam a lugar algum e com transporte precário. No total, 22 mil deslocados foram alojados em 6 mil casas, todas iguais, com 63 metros quadrados. Tamanho insuficiente para famílias que não atendiam ao padrão das cidades. Famílias que, meses depois de receber a indenização, faliram.
A pressa na mudança e o destino incerto ampliaram a angústia de muitos. O reassentamento urbano desmontou o tecido social. Vizinhanças foram desfeitas e, mesmo no crime, facções foram misturadas. O resultado não demorou a aparecer. A taxa de homicídios aumentou em 1.100% entre 2000 e 2015.
A usina mudou complemente a vida de milhares de habitantes. Em 2013, no auge da obra, entre 20 mil e 40 mil trabalhadores desembarcaram em uma cidade sem estrutura para recebê-los. Os preços dos imóveis dispararam, a criminalidade explodiu e até os puteiros de Altamira não deram conta da demanda. À época, as mulheres que trabalhavam nesses locais decretaram uma greve de sexo. Não tinham como atender às hordas de homens que, aos fins de semanas, batiam às portas. Em uma tentativa de dialogar com a Norte Energia, pediram que os salários dos funcionários da usina, os barrageiros, fossem pagos de forma alternada durante o mês, para que não houvesse uma corrida aos puteiros da cidade no mesmo fim de semana. A empresa negou-se, porém, a atender à solicitação. No livro Terror e Resistência no Xingu, a antropóloga Ana de Francesco relata o caso de um homem que, na fila de um desses prostíbulos e desesperado de solidão na floresta, pedia apenas por carinho. Dez anos depois, a reportagem passou pelo barracão antes sede do prostíbulo, nas proximidades da Transamazônica. Hoje está vazio. No portão, destaca-se uma placa de “Vende-se”.
Se Belo Monte representa uma sombra sobre o Xingu, o temor de entidades, indígenas e especialistas é de que uma aceleração da aprovação de novos projetos leve ao fim definitivo de toda uma civilização amazônica. •
Publicado na edição n° 1376 de CartaCapital, em 27 de agosto de 2025.
[Atualização: Após a publicação desta reportagem, a Norte Energia enviou uma nota a CartaCapital contestando informações a respeito de impactos ambientais. A íntegra pode ser lida aqui.]
Apoie o jornalismo que chama as coisas pelo nome
Muita gente esqueceu o que escreveu, disse ou defendeu. Nós não. O compromisso de CartaCapital com os princípios do bom jornalismo permanece o mesmo.
O combate à desigualdade nos importa. A denúncia das injustiças importa. Importa uma democracia digna do nome. Importa o apego à verdade factual e a honestidade.
Estamos aqui, há mais de 30 anos, porque nos importamos. Como nossos fiéis leitores, CartaCapital segue atenta.
Se o bom jornalismo também importa para você, nos ajude a seguir lutando. Assine a edição semanal de CartaCapital ou contribua com o quanto puder.





