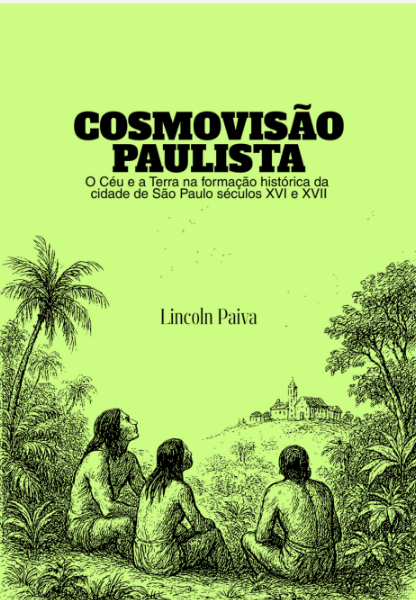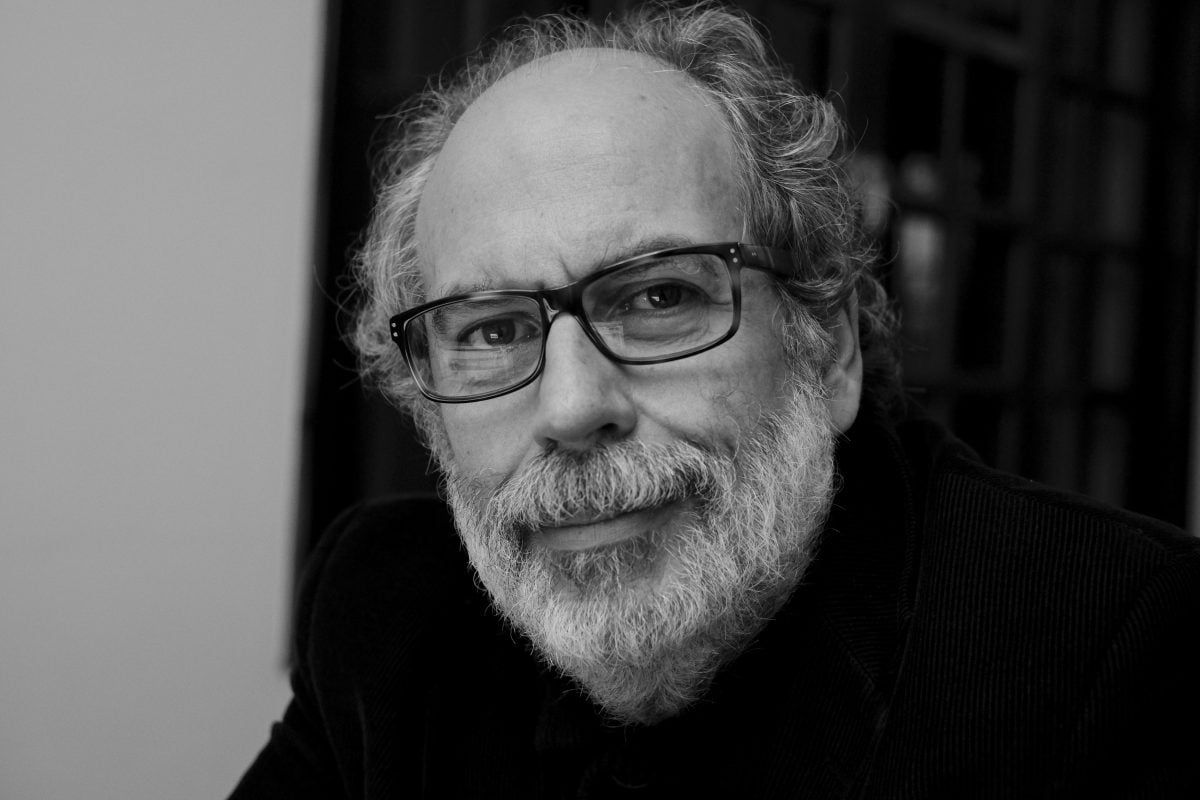Sociedade
Livro resgata a formação de São Paulo pelas lentes da cosmovisão
O urbanista Lincoln Paiva defende que a história de São Paulo não pode ser lida apenas pelos registros oficiais


Nesta quinta-feira 25, o urbanista Lincoln Paiva lança Cosmovisão Paulista: O Céu e a Terra na Formação da Cidade de São Paulo, obra em que investiga o desenvolvimento da capital nos séculos XVI e XVII. Paiva é doutor em Arquitetura e Urbanismo, professor universitário, ex-conselheiro de políticas urbanas da cidade e ex-membro do Comitê de Paisagem Urbana do município.
No livro, ele defende que a história de São Paulo não pode ser lida apenas pelos registros oficiais, mas exige uma compreensão das visões de mundo que se confrontaram no período colonial. Ao contrapor a relação sagrada dos povos indígenas com a terra e a lógica de propriedade trazida pelos colonizadores europeus, Paiva mostra como desse choque emergiu uma cosmovisão própria, que atravessou séculos e ainda molda o modo como a cidade se organiza, cresce e se reinventa.
Confira a seguir.
CartaCapital: Seu livro apresenta uma proposta de ler a história com uma lente pouco usual. Você sugere uma releitura que coloca, em pé de igualdade, dados objetivos e subjetividades em conflito. Como esse antagonismo criou a cosmovisão paulista?
Lincoln Paiva: Cosmovisão é o conjunto de valores, crenças e práticas que orientam como uma sociedade percebe a si mesma. No encontro colonial, duas visões de mundo muito diferentes se confrontaram: para os povos indígenas, a terra era sagrada e coletiva; para os europeus, era propriedade, riqueza e hierarquia.
Para compreender esse choque, proponho a ideia da “lente”: estamos imersos em uma visão eurocristã e, ao julgarmos o passado com nossos próprios critérios, confundimos negociação com imposição. Só ao nos distanciarmos conseguimos enxergar a complexidade desses contrastes. Foi nesse ambiente específico do planalto paulista, isolado do comércio atlântico, em meio à União Ibérica, que surgiu a cosmovisão paulista.
CartaCapital: Até meados do século passado, os bandeirantes eram celebrados como heróis, os jesuítas como civilizadores e os indígenas como habitantes a serem salvos do atraso. Como você entende esse processo de convivência e violência, e de que forma esse ambiente construiu um modelo de cultura e comportamento?
LP: Essa narrativa simplificou um processo marcado por conflitos. Os bandeirantes, em sua maioria, tinham ascendência indígena ou eram fruto de uniões entre portugueses e mulheres indígenas. Isso foi decisivo para a formação paulista dos séculos XVI e XVII: a escassez de mulheres europeias na vila de São Paulo levou a frequentes alianças com filhas de caciques aliados.
Muitos bandeirantes, como Raposo Tavares e Domingos Jorge Velho, eram mamelucos, e há indícios de mestiçagem também em famílias como a de Fernão Dias Paes. Entre 1580 e 1640, durante a União Ibérica, São Paulo vivia isolada da metrópole, falava uma língua própria e muitas vezes ignorava ordens do rei e da Igreja. Esse isolamento favoreceu uma cosmovisão autossuficiente, sustentada pelo apresamento indígena e pelo domínio das trilhas que abriram caminho para a Paulistânia.
Séculos depois, no 4º Centenário, esse passado foi revestido de heroísmo e a ascendência indígena apagada. Os bandeirantes foram retratados como brancos, transformados em mito, e o “espírito paulista” passou a ser celebrado como locomotiva do Brasil.
CartaCapital: Qual a relação desse processo dos séculos XVI e XVII com o que São Paulo se transformou?
LP: Se olharmos para aqueles séculos, veremos que São Paulo se estruturou sobre a posse da terra e o controle de pessoas — primeiro com o apresamento indígena, depois com a expansão territorial. Esse padrão se repetiu no século XIX, quando muitos barões do café descendiam dos bandeirantes e herdaram grandes extensões de terra.
A diferença é que, nesse momento, a base já não eram mais os povos indígenas, mas a mão de obra escravizada africana, explorada nas fazendas de café. Essa lógica de acumulação e exclusão atravessou séculos e moldou a cidade moderna que conhecemos: cosmopolita, mas erguida sobre camadas de violência, desigualdade e mestiçagem cultural.
CartaCapital: A transformação de São Paulo no polo econômico do Brasil no século XX tem alguma relação com esse processo?
LP: Sem dúvida. A São Paulo que se tornou o polo econômico do Brasil no século XX não nasceu do nada: ela é herdeira dessa lógica de acumulação de terras, controle de pessoas e centralidade nos caminhos.
Primeiro vieram as trilhas indígenas e o apresamento; depois, no século XIX, as fazendas de café com mão de obra escravizada; e, mais tarde, a industrialização financiada justamente pelo capital do café. Cada ciclo se assentou sobre a mesma base: a capacidade de articular fluxos de pessoas, riquezas, mercadorias. O que muda é a escala.
A cidade que hoje se vê como cosmopolita e moderna continua a reproduzir contradições históricas: riqueza concentrada, desigualdades profundas e, ao mesmo tempo, uma potência criativa que nasce desse caldeirão.
CartaCapital: Para onde caminhamos? O cosmos paulista continuará em expansão infinita ou corre o risco de mergulhar em um buraco negro?
LP: A história de São Paulo sempre foi de expansão: primeiro pelas trilhas indígenas, depois pelo café, pela indústria e, agora, pelo setor de serviços e tecnologia. Mas toda expansão tem limites.
Ambientais, porque o território é finito. Rios, mananciais e áreas verdes não podem ser indefinidamente ocupados sem colapso. Sociais, porque desigualdades, falta de moradia e exclusão travam o crescimento sustentável.
E culturais, porque a cidade cresce, mas, ao ignorar suas memórias indígenas e africanas, cria um vazio de pertencimento.
Esse vazio impede que as pessoas se reconheçam no espaço urbano. O risco de mergulhar em um “buraco negro” está justamente em repetir exclusões, apagar memórias e aprofundar desigualdades.
Ao mesmo tempo, São Paulo sempre mostrou capacidade de se reinventar, de transformar contradições em movimento. O futuro do “cosmos paulista” depende de como lidamos com essa herança: se apenas como uma locomotiva que passa por cima, ou como uma cidade capaz de integrar suas diferenças e reinventar sua vocação — acolher, integrar e valorizar as camadas da própria história.
Apoie o jornalismo que chama as coisas pelo nome
Depois de anos bicudos, voltamos a um Brasil minimamente normal. Este novo normal, contudo, segue repleto de incertezas. A ameaça bolsonarista persiste e os apetites do mercado e do Congresso continuam a pressionar o governo. Lá fora, o avanço global da extrema-direita e a brutalidade em Gaza e na Ucrânia arriscam implodir os frágeis alicerces da governança mundial.
CartaCapital não tem o apoio de bancos e fundações. Sobrevive, unicamente, da venda de anúncios e projetos e das contribuições de seus leitores. E seu apoio, leitor, é cada vez mais fundamental.
Não deixe a Carta parar. Se você valoriza o bom jornalismo, nos ajude a seguir lutando. Assine a edição semanal da revista ou contribua com o quanto puder.