Política
Vidas secas
A desertificação avança sobre 4,2 mil quilômetros quadrados na região, quase o tamanho da Grande Salvador


José Nilton Pereira trocou a vida agitada da cidade pela tranquilidade do campo. Faz tanto tempo que já nem se lembra o ano em que migrou. Sonhava em se tornar produtor rural, sinônimo de prestígio e influência na região. O que não imaginava era que enfrentaria uma série de adversidades em uma área marcada pela seca característica do Sertão nordestino, fenômeno agravado, ao longo dos anos, tanto pelo aquecimento global quanto pela degradação antrópica, causada pelo homem. Apesar das dificuldades, ele ainda se esforça para manter algumas tradições antigas, hoje incompatíveis com as condições climáticas do Semiárido, como a criação de mais de uma dezena de bois. A falta de água e a escassez de alimento mostraram que animais de grande porte são inviáveis para o território, sendo gradualmente substituídos por cabras, bodes e carneiros, como parte de uma estratégia de adaptação e convivência com a realidade local.
“A gente cria porque é tradição. Quando chega a seca e o gado emagrece, pensamos em vender. No período chuvoso, o animal engorda e a gente desiste. O povo encara como um hobby, cria porque acha bonito, dentro do que consegue manter. Não é mais como antigamente”, admite Pereira, morador do Frade, comunidade tradicional de fundo de pasto em Curaçá, no interior da Bahia. Localizada no Sertão do São Francisco, a 550 quilômetros de Salvador, a cidade está inserida no que pesquisadores chamam de “mancha árida”, área que abrange cinco municípios baianos em processo de desertificação. Nesta época do ano, as temperaturas passam dos 35° C, com sensação térmica próxima dos 40° C. Em 2025, só choveu em janeiro. Desde então, a seca domina, transformando a Caatinga, vegetação típica do Semiárido, numa floresta cinzenta e ressecada. À primeira vista, as árvores retorcidas, com galhos secos virados para o alto, como raízes invertidas, parecem mortas. Mas não estão. Ao menor sinal de chuva, voltam a esverdear, e com elas renasce a esperança dos que vivem e resistem ali.
Uma pesquisa publicada, ano passado, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden) identificou que uma área de quase 6 mil quilômetros quadrados do Nordeste teria migrado da categoria climática semiárida para árida, envolvendo municípios do Norte da Bahia até o Sul de Pernambuco. Esse dado, no entanto, foi atualizado recentemente, retirando a parte pernambucana da mancha árida. Mesmo assim, a desertificação estende-se por 4,2 mil quilômetros quadrados, quase o mesmo tamanho da Região Metropolitana de Salvador (4,3 mil quilômetros quadrados). Além de Curaçá, constam na relação Abaré, Chorrochó, Macururé e Rodelas, todos baianos.
 Memórias. A agricultura não é mais tão produtiva como no passado, observa Maria Ronilde. Alessandro Tuxi também se recorda de uma infância menos árida – Imagem: Danilo de Souza Santos
Memórias. A agricultura não é mais tão produtiva como no passado, observa Maria Ronilde. Alessandro Tuxi também se recorda de uma infância menos árida – Imagem: Danilo de Souza Santos
Segundo a Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação, o fenômeno é medido a partir do índice de aridez, calculado pela relação entre a precipitação (chuva) e a evapotranspiração (perda de água para a atmosfera). Entre 0,05 e 0,2 já pode ser considerado clima árido, estágio identificado na Bahia, que atingiu a marca de 0,18. A margem que vai de 0,2 a 0,5 é característica do semiárido, comum em toda a região da Caatinga nordestina e em parte do Espírito Santo e Minas Gerais.
“Na desertificação, a superfície resseca e se impermeabiliza, impedindo a infiltração da água. A vegetação perde vigor, a atmosfera aquece, as chuvas diminuem e até os lençóis freáticos recuam. Os rios passam a ser intermitentes e, com frequência, as pessoas acabam abandonando essas áreas. O processo começa com a degradação ambiental: o solo perde sua capacidade produtiva, gerando impactos econômicos, hídricos e sociais”, explica Aldrin Pérez, pesquisador do Instituto Nacional do Semiárido e representante brasileiro na Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação. Ele cita uma pesquisa recente que aponta a Caatinga como alternativa concreta para enfrentar a crise climática.
“A Caatinga sequestra carbono como nenhuma outra floresta, mesmo nos períodos mais secos. A cada chuva, galhos, folhas e raízes são transformados em gramas de carbono. Metade disso é retido no solo e o restante liberado na atmosfera, nenhum outro bioma tem essa eficiência”, observa o pesquisador. “Ela tem um tempo de dormência e outro de explosão verde. Estamos falando do semiárido mais chuvoso e populoso do planeta, com uma diversidade impressionante de povos indígenas quilombolas e comunidades tradicionais”, acrescenta Cícero Félix, da Coordenação da Articulação do Semiárido (ASA). “Quando conseguimos apresentar um programa de convivência com a região, colocamos o Semiárido no mapa político do Brasil, porque até então só se falava do ‘polígono da seca’.”
Para identificar mudanças no clima, o Inpe e o Cemaden analisaram dados dos últimos 60 anos, comparando o índice de aridez em blocos de 30 em 30 anos. Ao contrário do que muitos pensam, a desertificação não transforma uma região árida em deserto, cujo clima é hiperárido e apresenta índice de aridez inferior a 0,05. Essa mudança de categoria climática no interior da Bahia é abstrata e pouco perceptível para quem vive nos municípios afetados, acostumados historicamente a conviver com a seca.
Cinco municípios baianos já possuem clima árido, segundo pesquisadores do Inpe e do Cemaden
“O que é árido e o que é semiárido?”, indaga Pereira. “A gente não sabe o que é isso, não. A vida aqui sempre foi difícil, mas a gente tem de enfrentá-la, com a ajuda de Deus.” Ana Paula Cunha, pesquisadora do Cemaden e uma das autoras do estudo, explica que essas transformações não são perceptíveis em períodos curtos. “São mudanças que levam décadas, não é algo que se note de um ano para o outro. O que mais se sente é o aumento da temperatura, em comparação com 40, 50 ou 60 anos atrás. O ecossistema e o ser humano acabam se adaptando a isso”, afirma.
Assim como Pereira, Seu Nestor Rodrigues também vive na comunidade do Frade. Quando criança, gostava de ver o pai e o avô pastoreando o gado. Naquela época, há mais de 60 anos, a escassez de água e alimento era menor. “Lembro que, ainda menino, eles levavam os bois até as fontes. E tinha vegetação às margens do riacho, que servia de pasto. Com o tempo e com o verão puxado, tudo mudou: os bois tinham de ser carregados para não morrer, de tão magros. Hoje, ninguém mais consegue sustentar o gado”, recorda. Depois da morte do pai, Nestor trocou os bois por bodes e ovelhas. “O gado precisa de muita água e comida. A gente perdeu muito. O que restou, vendi. Preferi as ovelhinhas.”
Luís Piritiba, agrônomo do Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada (Irpaa), explica que o aumento da temperatura alterou diretamente o modo de vida no Semiárido, forçando tanto os habitantes quanto o ecossistema a se adaptarem. Entre as mudanças, destaca-se a substituição da criação de gado pela caprinovinocultura. “Hoje, a principal atividade nas comunidades é a criação extensiva de animais de pequeno porte, com uso da Caatinga como pasto nativo. Essas populações se organizaram coletivamente a partir dessas relações entre criação e produção de alimentos”, afirma. Ele acrescenta que o acesso a tecnologias sociais, como cisternas para captação de água da chuva, torna esse modo de vida sustentável, com condições reais de produção e permanência no local. “Sem políticas públicas, a vida nessas comunidades torna-se muito mais difícil.”
No aldeamento Tuxi, em Abaré, as mudanças climáticas já impactam os rituais ancestrais. “Antes, o plantio seguia o tempo da lua, com meses certos para cada cultura. Hoje, o clima mudou e as chuvas não têm mais o mesmo ritmo. Plantávamos feijão, arroz, mandioca, batata, milho. Agora, não se planta mais nada disso”, lamenta o cacique Alcindo.
Dona Maria Ronilde, viúva do pajé e com 64 anos, também conheceu um clima menos seco e uma agricultura mais produtiva, mas prefere o cenário atual, após a chegada das tecnologias sociais, que melhoraram a qualidade de vida na região. “Antes era tudo mais difícil. A gente andava quase meia légua com uma lata na cabeça para pegar água na cabacinha. Tinha de cavar buraco para encontrar um golinho d’água, porque não havia encanamento. Às vezes, a água vinha num jegue. Hoje, temos a tranquilidade das cisternas, com água dentro da aldeia”, compara.
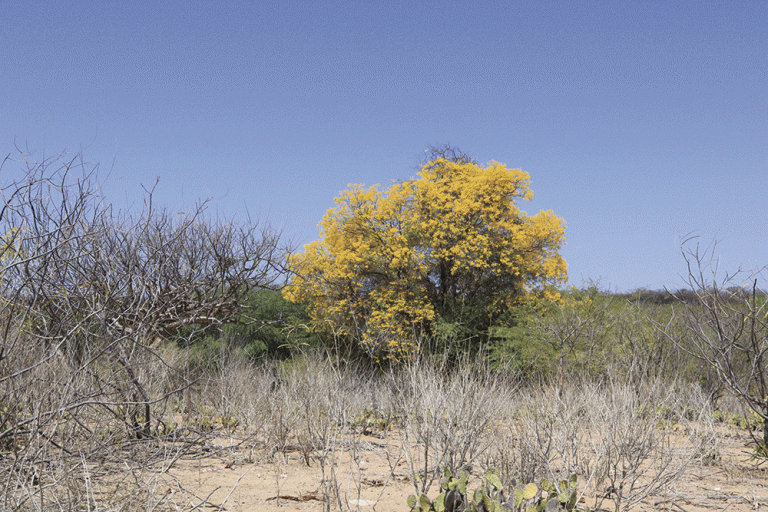 Não é miragem. Apesar da aridez, a Caatinga está viva e exuberante. As cisternas ajudam o povo a lidar com a escassez de chuvas – Imagem: Danilo de Souza Santos
Não é miragem. Apesar da aridez, a Caatinga está viva e exuberante. As cisternas ajudam o povo a lidar com a escassez de chuvas – Imagem: Danilo de Souza Santos
O professor Alessandro Tuxi, de 33 anos, leva para a sala de aula as lembranças da infância. “Lembro dos meus avós plantando feijão, melancia, abóbora e até macaxeira, que leva tempo para colher. Hoje, isso praticamente não existe no território. Tudo precisa ser comprado, e muitos animais morrem por falta de pasto na Caatinga. Mas, apesar das adversidades, é possível se adaptar. Para isso, precisamos valorizar os saberes da comunidade e investir em tecnologias sociais”, sugere.
Antônio Barbosa, coordenador de programas e projetos da ASA, lembra que armazenar água da chuva sempre foi prática comum no Semiárido, embora feita em recipientes pequenos, incapazes de sustentar longos períodos de seca. “Quando se oferece um reservatório maior, como as cisternas, as famílias passam a ter água por muito mais tempo. E, quando melhora a vida das pessoas, melhora também a do solo, das plantas, dos microrganismos, do entorno”, destaca. Ele reforça que agricultores e comunidades tradicionais são os que mais preservam o meio ambiente, por manterem uma relação direta com a natureza. “Vivem e sentem-se parte dela. Por isso, é tão importante ter água, terra, plantas e animais adaptados.”
Em setembro, uma comissão coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente concluiu a atualização do Plano de Ação Brasileiro de Combate à Desertificação. Com diretrizes para os próximos 20 anos, o documento foi elaborado a partir de uma consulta pública que envolveu mais de 1,2 mil participantes, incluindo representantes da sociedade civil, setor privado, pesquisadores e gestores públicos. A proposta, que inclui iniciativas para restaurar a Caatinga e promover a adaptação ao Semiárido, será apresentada na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que será realizada de 10 a 21 de novembro em Belém. •
*A repórter viajou a convite da Articulação do Semiárido Brasileiro (ASA).
Publicado na edição n° 1385 de CartaCapital, em 29 de outubro de 2025.
Este texto aparece na edição impressa de CartaCapital sob o título ‘Vidas secas ‘
Apoie o jornalismo que chama as coisas pelo nome
Depois de anos bicudos, voltamos a um Brasil minimamente normal. Este novo normal, contudo, segue repleto de incertezas. A ameaça bolsonarista persiste e os apetites do mercado e do Congresso continuam a pressionar o governo. Lá fora, o avanço global da extrema-direita e a brutalidade em Gaza e na Ucrânia arriscam implodir os frágeis alicerces da governança mundial.
CartaCapital não tem o apoio de bancos e fundações. Sobrevive, unicamente, da venda de anúncios e projetos e das contribuições de seus leitores. E seu apoio, leitor, é cada vez mais fundamental.
Não deixe a Carta parar. Se você valoriza o bom jornalismo, nos ajude a seguir lutando. Assine a edição semanal da revista ou contribua com o quanto puder.





