Opinião
Verde e amarelo
Um roteiro sobre a criação da camiseta da Seleção, seu sequestro pelo golpismo e o destino de um Brasil fraturado


Este é o roteiro de um filme inacabado sobre um ícone do Brasil. O enredo é um crime político: o sequestro da camisa da Seleção brasileira de futebol. A mística camisa amarela vaga pelo seu inferno simbólico, nesta quadra histórica em que o País, saído de uma traumática eleição para presidente, ensaia seu retorno à luz. Nação e símbolo desencantaram-se, o corpo procura sua alma.
Nestes dias alucinantes, o drama desta história toca o ápice, em busca de desenlace. O Brasil entra em campo na Copa do Mundo do Catar, renovando a gasta esperança do hexa. Nas ruas, a camisa do Brasil derrama seu amarelo-ouro nas multidões que acampam às portas de quartéis, do Sul ao Norte, e pedem “intervenção” militar. Traços de ficção atravessam a realidade.
Cena/Sequência 1 (Camisa em Transe): Dia de Finados, novembro de 2022. Parentes visitam seus mortos em uma cidade industrial do Sul do Brasil. Depois saem às ruas, de amarelo, em grupos. Passaram-se três dias da eleição presidencial. Os jornais ainda noticiam a vitória de Lula. Estou diante da ilha de edição de um filme, mas não há concentração possível com a estranha vibração que vem da rua.
No País ainda em transe, defensores da “intervenção” militar vestem um uniforme: a camisa 10 da Seleção, torturada por Neymar
Vou para casa. Troco o carro pela moto. Dirijo-me ao encontro da multidão, até onde é possível. Depois, sigo a pé. Penetro a agitação verde-amarela, de capacete, gravo com um Iphone. “Deus, pátria, família”, o lema estampa as camisas amarelas, em múltiplas variações, entre os fanáticos abduzidos pelos smartphones. Em planos-sequência, filmo famílias inteiras, de avós a bebês, que se movem ao centro do teatro: o portão de um grupamento do Exército. Na maioria, brancos como eu. Parecem saídos da missa das 10 da Igreja dos Capuchinhos, nas cercanias do quartel. Uma carreata ruidosa tangencia a manifestação.
Entro pelo núcleo central, onde a massa se adensa e se move por inércia, bloqueando a avenida. Animadores discursam no alto de um caminhão de som. Toca o Hino Nacional. Depois todos cantam o Hino da República Rio-Grandense: Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a Terra…
Vendedores de camisas da Seleção, dispostas em araras, faturam sem parar. Todos querem a de Neymar Jr. Só há a do Neymar – o camisa 10 bolsonarista. Um rapaz assa churrasco de costela gorda na caçamba de uma picape. O orador, outro camisa 10, pede que todos se ajoelhem no asfalto, para juntos rezarem um Pai-Nosso. Pela pátria.
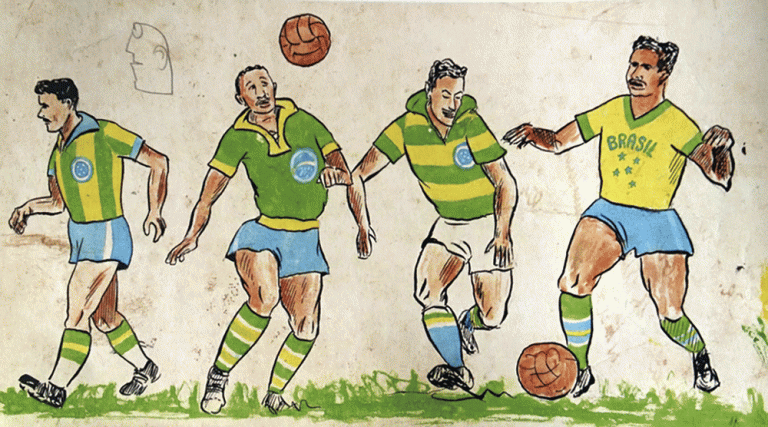 Croquis da camiseta, o jovem Schlee entre craques e no fim da vida, desgostoso com o uso distorcido de sua maior criação – Imagem: Acervo Aldyr Schlee e Daniel Herrera
Croquis da camiseta, o jovem Schlee entre craques e no fim da vida, desgostoso com o uso distorcido de sua maior criação – Imagem: Acervo Aldyr Schlee e Daniel Herrera
Corte/Camisas e bandeiras em profusão: ignoram, estas milhares de almas, amalgamadas nas redes sociais, a gênese da camisa que hoje veste seus devaneios em praça pública. Concebida nas lonjuras do extremo Sul do Brasil, a camisa da Seleção é a criação de um brasileiro da fronteira, ferrenho amante e defensor da democracia e das autênticas liberdades: o escritor Aldyr Garcia Schlee, com quem viajamos em busca de uma biografia da camisa brasileira, para contar esta história.
Este senhor do Pampa, formado na linha tênue entre Brasil e Uruguai, inventou a camisa da Seleção brasileira de futebol no ano de 1953. Aos 17 anos, fez surgir em papel e guache a camisa-síntese do Brasil, para dar luz e novo espírito nacional ao opaco uniforme dos jogadores brasileiros nos estádios do mundo. Schlee criou um símbolo tão brilhante e vitorioso que se tornou a representação oficial de todos os esportes nacionais. Mais: virou ícone da brasilidade, do jogo bonito, uma ideia de Brasil. A camisa do rei Pelé e outros seres mágicos, mais vista, mais sonhada e mais reconhecida aqui e no mundo do que a própria bandeira nacional.
Marca identitária de um país do futuro, feita manto e escudo de heróis míticos, a camisa dita “Canarinho” teria de cumprir, por força do destino, a sua jornada dantesca, entre o Céu e o Inferno. Para além dos estádios e das transmissões de tevê, também revestiu os fantasmas de um velho Brasil: o reacionarismo atávico, o autoritarismo.
Na companhia não do poeta Virgílio – como no périplo de A Divina Comédia, de Dante Alighieri –, mas de um sombrio Messias emanado da nossa pior tradição política, a camisa desceu aos círculos do Inferno e vestiu na última década legiões de brasileiros aprisionados ao Brasil arcaico, violento e ressentido.
De ícone de uma desejada nação da alegria e da ginga, a camisa da Seleção retrocedeu à condição da nossa decantada vira-latice
Hoje, nas ruas e nos corações da nação, entre os que se agitam na histeria golpista e os que silenciam no exílio simbólico da cor amarela, a camisa do Brasil vive seu maior transe. Podemos ouvir a voz do narrador global, onipresente: “A pergunta de milhões, haverá redenção da camisa?”
Cena/Sequência 2 (A Camisa Sequestrada): O carro cruza a fronteira e mergulha no Uruguai. Schlee, o pai da camisa da Seleção, está com 83 anos. Tem os olhos fixos na paisagem que escolheu como sua, brasileiro ao Sul do próprio País, no território imaginário que viveu, reinventou e escreveu, transbordando limites de terras reais e abstratas: o Pampa.
Nosso destino é Montevidéu, onde Brasil e Uruguai entrarão em campo pelas eliminatórias da Copa da Rússia. Estamos em março de 2017, átrio do inferno bolsonarista, em cujo portal imaginário o conde Temer recita Dante: “Deixai cada esperança, vós que entrais”. Embora o horizonte anunciasse as cinzas amazônicas e as nuvens da nossa necrofilia política, íamos em busca de um sentido original, de uma possível redenção da camisa brasileira. Schlee sabe, sem o dizer: é a sua última travessia Uruguai adentro, o reencontro com a sua maior criação, quase renegada, ao fim da vida. De ícone de uma desejada nação da alegria e da ginga, a camisa da Seleção retrocedeu à condição da nossa decantada vira-latice. Foi colada à corrupção da cartolagem, ao futebol monetário, até chegar ao sinistro 7 a 1. E, desde então, viajou por inenarráveis subterrâneos. O novo sentido da camisa foi anunciado na onda dos protestos de 2013. Multidões gritavam que o gigante acordava. Aos poucos, a cor amarela associava-se ao patriotismo, na vazão do expurgo coletivo, sem direção – e outros ismos: nacionalismo, militarismo, lavajatismo, golpismo, até o abismo bolsonarista.
Schlee mira o deserto do Pampa, fala de seu desencanto amarelo. “O que me deixa profundamente triste, que me faz ficar de mal com a minha criação, é o fato de a camisa ter se tornado um símbolo popular do golpe que tirou uma presidenta do País democraticamente eleita. O uso político da camisa da Seleção é algo que precisa ser revisto.”
 O Maracanazzo ainda marca a alma brasileira, que não se livra do complexo de vira-lata – Imagem: AP
O Maracanazzo ainda marca a alma brasileira, que não se livra do complexo de vira-lata – Imagem: AP
Cena/Sequência 3 (A Camisa de Sangue): Ainda nos ares de 2013, um oculto sentimento ou ser, inominado, fermentava nos intestinos da nação. Era até então um ser opaco, cronicamente inviável. Movia-se há 30 anos pelos submundos do Exército e da política. O Messias enviado, com a arma e a Bíblia nas mãos, sobre quem recaiu tamanha energia acumulada, ganhou um nome. Um certo Jair – com o erre de pronúncia caipira, mastigado pela ancestralidade italiana do interior paulista. Jair Messias Bolsonaro.
Em um toque de tragédia grega, de repente, às vésperas da eleição de 2018, uma faca atravessa a camisa amarela do Messias, carregado por mitômanos em Juiz de Fora – roteiro de um filme B, sangue e ketchup a vazar da tela. Fez-se o mito no quintal do mundo.
O poder refestelou-se na camisa da Seleção. A camisa amarela nele encarna o modelo de um fascismo à brasileira, anacrônico, messiânico, histérico e melancólico a um só tempo. De amarelo agitavam-se os manifestantes que, ao mínimo sinal do Messias às portas do palácio, saíam às ruas para exigir a intervenção militar, o fechamento do Congresso e do Supremo – o cabo e o soldado no jipe, generais de óculos escuros a sobrevoar a Praça dos Poderes.
Recaída, a camisa da Seleção de certo modo regurgita o passado. No tricampeonato da Copa do México, em 1970, ela serviu ao clichê da pátria de chuteiras, inflada pela ditadura iniciada em 1964. Rivellino, Gérson, Tostão, Jairzinho e Pelé embalavam o “esquadrão de ouro” do Prá Frente Brasil, canção-tema da propaganda ufanista daqueles anos.
Passados quase 50 anos, tendo o País atravessado a ponte da ditadura, a camisa amarela volta ao olho do furacão, transformada em farda civil, quase militar. Talvez a camiseta Canarinho tenha, enfim, ajustado o figurino ao corpo e à alma que realmente somos: um Brasil duro, perna-de-pau, movido por esse ódio cíclico que nutrimos por nós mesmos. Não mais aquela fantasia que imaginávamos e desejávamos ser, a caminho do futuro, longe, mas promissor.
Schlee: “O que me deixa profundamente triste, que me faz ficar de mal com a minha criação, é o fato de a camisa ter se tornado um símbolo do golpe”
Cena 4/Corte (O Carro de Som): 8 de novembro de 2022, passaram-se nove dias da eleição de Lula. O técnico Tite anuncia os convocados da Seleção. Um carro de som circula lá fora, com um mantra de mil decibéis: “Patriotas, a nossa pátria sofreu um duro golpe contra a democracia. A eleição foi fraudada. Não respeitaram a vontade do povo. Por isso convidamos todos vocês a se juntarem a nós e ir até os portões dos quartéis. Pela nossa pátria, pelas nossas famílias, pelos nossos filho e netos”.
Cena/Sequência 5 (Ao Sul da Camisa): Retornamos à estrada. O pertencimento da camisa é uma viagem alucinante, com destino incerto. O Pampa aprofunda-se até Jaguarão, 152 quilômetros ao sul de Pelotas. A cidade ainda é quase toda um sítio histórico, com fachadas portuguesas.
A camisa brasileira não deixa de ser uma refração dessa faixa de fronteira, que divide, mas também revela o que está à nossa frente. É onde Schlee nasceu e viveu até a adolescência, o território real e imaginário de sua vida e obra literária, em dezenas de contos, novelas e romances – vários traduzidos e adaptados, entre eles os contos de O Dia em Que o Papa Foi a Melo (1991/Uruguai; 1999/Brasil), que virou o filme O Banheiro do Papa, de César Charlone, em 2007.
Aos 7 anos, Schlee era iniciado no futebol pelo tio Oscar Garcia, goleiro de fama em Jaguarão. Nos vestiários de tábuas, fedendo a urina, o menino ficava quieto nos cantos, diminuído, vendo aqueles homens de falas portuguesas e castelhanas, nus, dizendo palavrões. Pegou paixão pela “Celeste” uruguaia. Inspirado na crônica esportiva das revistas El Grafico e Mundo Deportivo, de Montevidéu, passou a reproduzir os gols que ouvia em desenhos e esquemas gráficos. Surgia o cronista e o artista.
Paramos às margens do Jaguarão para gravar. Ao fundo está a ponte em arcos, fortificada, que liga o Brasil ao Uruguai. Voltamos à lembrança da Copa do Mundo de 1950. O Brasil foi abatido pelo Uruguai no Maracanã, no episódio que entrou para a história como Maracanazzo – e para a crônica sociológica do “complexo de vira-latas”, de Nelson Rodrigues.
 O futebol não une mais o País. Nem alegra nem enche de orgulho a nação – Imagem: CBF Oficial
O futebol não une mais o País. Nem alegra nem enche de orgulho a nação – Imagem: CBF Oficial
No dia daquela final, Schlee tinha cruzado a ponte. Estava no cinema, do lado uruguaio, quando o filme foi interrompido. Acenderam-se as luzes e o locutor anunciou que o Uruguai se sagrava campeão do mundo no Brasil. Delírio geral. “Eu chorava copiosamente, mas não sabia se era de tristeza ou de alegria.”
Até o trauma do Maracanã, a Seleção brasileira jogava de camisas brancas. Na iminência da Copa de 1954, surge um movimento para criar a nova camisa. “Era a velha forma de mudar alguma coisa para manter tudo igual”, afirma Schlee. A Confederação Brasileira de Desportos (CBD), ancestral da CBF, associada ao jornal Diário da Manhã, do Rio de Janeiro, lança um concurso nacional. Schlee nem acreditava quando saíram rumores da escolha. Era ele o grande vencedor, entre mais de 300 artistas do País. Além do prêmio em dinheiro, ganhou um ano de estágio como ilustrador no Correio da Manhã. Participaria dos eventos e jogos oficiais do novo uniforme, conheceria os ídolos que desenhava na adolescência.
A jornada do rapaz de Jaguarão, na efervescência do Rio nos anos 1950, daria a ele, em igual medida, o fascínio pelo futebol e o olhar crítico àquele universo, aspectos que marcariam sua vida e obra até o fim, inclusive na relação com a sua maior invenção: a camisa Canarinho. Expressão que, aliás, o fazia rir. “Não sei quem inventou essa história de camisa Canarinho, o amarelo da camisa não tem nada a ver com canarinho, mas o apelido pegou.”
Nos mais de 500 quilômetros de Pampa que nos deixariam na boca de Montevidéu, Schlee manteve irredutível seu palpite de 4 a 0 para o Uruguai. Subimos as escadarias do Estádio Centenário, anel superior-oeste, fila 5, assento 13. Em campo, as seleções Celeste e Canarinho, enfileiradas, para os ritos oficiais. “A camisa azul-celeste é perfeita, mas a amarela também é linda”, disse, antes de chorar copiosamente durante o coro uníssono do hino uruguaio, entoado por 50 mil vozes.
Pênalti para o Uruguai: gol de Cavani. Depois veio a virada, 4 a 1 para o Brasil. Fim de jogo. O estádio esvaziava, em silêncio, a massa celeste. Um torcedor espalhava a notícia de que ali estava o pai da camisa do Brasil. Descemos até o gramado, segurando o corpo exausto de Schlee. Ele caminhou até o centro do campo, vazio. Levava nas mãos uma camisa, réplica do modelo de 1962. Pedi a ele que a assinasse. Dei-lhe os ombros, de apoio. Senti nas minhas costas a grafia trêmula daquele instante.
O artista comenta, após a derrota do Brasil para a Bélgica no Mundial de 2018: “Nossa seleção tem um craque de pés de barro”
Dois dias depois reentramos pela fronteira. No portão da casa de campo, nas cercanias de Pelotas, Schlee nos guiou pela ampla biblioteca. Abriu pastas e caixas com os álbuns e os desenhos originais da camisa eleita, guardados por seis décadas. Algo maior nos esperava. O artista entrou a revirar as gavetas da escrivaninha, aflito, até encontrar um estojo metálico de tinta guache, com 12 cores. “Aqui está, essa é a tinta que usei.” Com um pincel de ponta fina, verteu três gotas d’água no amarelo mais denso da cartela, quase todo gasto. O pigmento ganhou vida, lentamente. Sobre uma cópia do desenho de 1953, começou a pintar. “Bah! Que bom que eu achei isso. De repente, a gente pinta a camisa de novo, tanto tempo depois.”
Viajamos ao encontro de Schlee ainda uma vez. No apartamento em Pelotas, o filmamos durante o jogo entre Brasil e Bélgica, em julho de 2018, quando a Seleção foi eliminada da Copa da Rússia. “Nossa seleção tem um craque com os pés de barro”, dizia, enquanto anotava os gols, jogadores e lances da partida. Desenharia o último álbum das Copas. Os tempos não eram nada bons, em outubro venceria o Messias.
O artista saiu de campo às vésperas do amistoso internacional entre Brasil e Uruguai, em Londres – aqui, dia da República. A 16 de novembro de 2018, fez-se o minuto de silêncio no estádio do Arsenal, com as seleções dos dois países perfiladas, em homenagem ao homem da fronteira, de coração híbrido, brasileiro e uruguaio. No mesmo dia do jogo, em Pelotas, cumpria-se o adeus a Schlee: o caixão nu, sem bandeira ou camisa amarela.
Cena Final (A Camisa no Exílio): Observo a camisa amarela, pendurada nas travessas do sótão da casa, assinada no quadrante do coração por Aldyr Schlee, naquela noite em Montevidéu. Guardo o desejo de, um dia, poder vesti-la novamente. •
*Jornalista, diretor e roteirista.
CORAÇÃO AMARELO
A saga de um documentário a ser concluído
 Constantin, de camisa azul, leva Schlee ao Estádio Centenário, em Montevidéu – Imagem: Daniel Herrera
Constantin, de camisa azul, leva Schlee ao Estádio Centenário, em Montevidéu – Imagem: Daniel Herrera
Em 2015, começamos a empreender com Aldyr Schlee os registros de um filme intitulado Coração Amarelo, sobre a incrível aventura da camisa do Brasil, então atravessada por um devaneio político e social. A morte de Aldyr, em 2018, mudou o curso de nossas viagens à fronteira do Sul do País – e além dela.
O projeto do filme lida com a difícil questão de uso da imagem da camisa da Seleção brasileira, enquanto marca e produto. Mas, nesta Copa do Mundo, o País a pulsar nas ruas, câmera na mão, seguimos atentos em busca desse “Coração Amarelo”, que, ostentado por multidões, foi também arrancado do peito de muita gente.
Como sugestão, penso que a camisa amarela, ícone do País, deva ser objeto de um processo de estudo, reconhecimento e proteção como Patrimônio Cultural do Brasil, para além de uma marca, como herança, símbolo e traço de identidade de todos nós.
PUBLICADO NA EDIÇÃO Nº 1235 DE CARTACAPITAL, EM 23 DE NOVEMBRO DE 2022.
Este texto aparece na edição impressa de CartaCapital sob o título “Verde e amarelo”
Este texto não representa, necessariamente, a opinião de CartaCapital.
Apoie o jornalismo que chama as coisas pelo nome
Depois de anos bicudos, voltamos a um Brasil minimamente normal. Este novo normal, contudo, segue repleto de incertezas. A ameaça bolsonarista persiste e os apetites do mercado e do Congresso continuam a pressionar o governo. Lá fora, o avanço global da extrema-direita e a brutalidade em Gaza e na Ucrânia arriscam implodir os frágeis alicerces da governança mundial.
CartaCapital não tem o apoio de bancos e fundações. Sobrevive, unicamente, da venda de anúncios e projetos e das contribuições de seus leitores. E seu apoio, leitor, é cada vez mais fundamental.
Não deixe a Carta parar. Se você valoriza o bom jornalismo, nos ajude a seguir lutando. Assine a edição semanal da revista ou contribua com o quanto puder.






