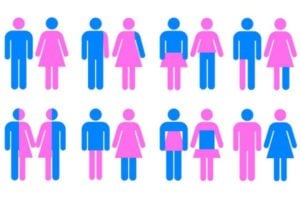Diversidade
Sobre gênero, Judith Butler, aborto e tudo isso que está aí
Falar sobre gênero é falar sobre os direitos das mulheres. Ambos estão sendo cerceados

Falar sobre gênero nunca foi particularmente fácil. E isso é assim desde antes do surgimento do fenômeno da dita “ideologia de gênero”.
É importante dizer que o termo “ideologia de gênero” é um não-conceito, certeiramente enquadrado pela pesquisadora Sonia Correa no fórum feminista Agora É Que São Elas da Folha de S.Paulo como mera “moldura semântica” que carrega “significantes vazios e adaptáveis”.
Em discussões sobre gênero, mesmo descontando a acirrada disputa atual pelos significados do termo, não raro surgem variações do seguinte comentário: “quando uma criança nasce, o médico olha para seus genitais e declara: menino ou menina; é assim, sempre foi assim, sempre vai ser assim.”
Talvez seja mesmo difícil conceber que algo tão arraigado quanto o hábito de pensarmos binariamente sobre gênero e sexualidade – em outras palavras, de naturalizarmos como correto e ideal que humanas nascidas fêmeas serão meninas que se tornarão mulheres heterossexuais, e que humanos nascidos machos serão meninos que se tornarão homens igualmente heterossexuais – possa deixar de ser “como sempre foi”.
Compreendo a dificuldade, assim como compreendo que a pauta gênero, por ser relativamente nova, cause desconforto e desconfiança, como toda proposição que difere radicalmente do senso comum.
Mas é importante lembrar que o que “sempre foi assim”, na verdade, não é bem assim. O que tomamos como correto e ideal não necessariamente corresponde à realidade das vidas de muitas pessoas que sempre existiram. O que parece ter sido “sempre assim” corresponde melhor à naturalização de uma forma binária de pensar como correta e ideal.
De fato, o que “sempre foi assim” é a existência de humanos que não se enquadram nessa norma binária e cis-heteronormativa. Sempre existiram mulheres lésbicas, homens gays, bem como pessoas bissexuais, transexuais, e também intersexo – indivíduos cujo gênero efetivamente não pode ser definido nem como masculino, nem como feminino, apenas a partir da visualização do sexo biológico.
Estas pessoas existem e sempre vão existir, e é para que possamos garantir seus direitos e articularmos formas dignas para vivermos conjuntamente em sociedade que estudamos gênero.
Falar sobre gênero causa tanto desconforto e desconfiança que esse efeito pode ser percebido até mesmo em círculos feministas, ironicamente de onde se originam os estudos sobre o tema.
Os estudos sobre gênero, embora considerem o exercício de definição da identidade de bebês, bem como a de crianças e de adultos, não se resume a isso.
Assim, antes de discorrermos sobre a possibilidade de que um dia estas definições pautadas na naturalização do binário cisheteronormativo deixem de ocorrer das formas que sempre ocorreram e, importantemente, antes de nos desesperarmos pensando nas implicações destas mudanças, gostaria de propor um exercício.
Se reescrevo o mencionado comentário substituindo nele o gênero referente ao profissional de saúde – vejamos: “Quando uma criança nasce, a médica olha para seus genitais e declara: menino ou menina; é assim, sempre foi assim” – a asserção se torna imediatamente falsa.
Isso porque não foi sempre que mulheres foram médicas. Mulheres, na década de 70, representavam apenas 11% da profissão (“Os médicos no Brasil: um retrato da realidade”, livro de Maria Helena Machado), e são maioria na medicina no País apenas desde 2011 (“Demografia Médica no Brasil 2015”, pesquisa realizada por Mário Scheffer da Faculdade de Medicina da USP).
Esta mesma pesquisa da FMUSP indica que, apesar do aumento da presença de mulheres nos quadros profissionais da medicina, persistem desigualdades de gênero no que diz respeito a remuneração, bem como em áreas que permanecem fechadas para as mulheres.
Tanto a discussão sobre a definição do gênero do bebê a partir de genitálias quanto o aumento do número de mulheres médicas e a disparidade salarial entre elas e seus colegas homens são de interesse dos estudos de gênero.
➤ Leia também: Judith Butler: "O ataque ao gênero emerge do medo das mudanças"
Já a “ideologia de gênero”, conforme está articulada, é uma fantasia.
É bastante evidente que os contrários a esta moldura semântica vazia e adaptável estão, na melhor das hipóteses, confusos sobre os significados das palavras “ideologia” e “gênero” e, na pior, deliberadamente incitando intolerância à diversidade e até mesmo ódio a quem não se enquadra nas normas de gênero, ou luta para dissolve-las.
Sobre o quão fantasioso é o conceito de ideologia de gênero, eu e muitas outras autoras já escrevemos extensivamente, e algumas produções bastante didáticas podem ser encontradas nesta compilação feita pela Casa da Mãe Joanna.
Toda a campanha contra a ideologia de gênero é envolta em bizarrice.
Primeiramente, como já dito, o conceito é uma invenção. Assim, é também um alvitre que aqueles que se propõem a discutir gênero estejam querendo impor que todas as pessoas sejam homossexuais ou aniquilar tudo aquilo que é considerado feminino ou masculino.
Os estudos de gênero não negam nem demonizam a cis-heterossexualidade (onde cis é o oposto de trans), não se opõem ao direito de “meninos serem meninos” e “meninas serem meninas”, nem refutam a biologia, como pensam seus detratores.
Os estudos de gênero simplesmente exploram perspectivas socioculturais sobre sexualidade e identidade, para além da fisiologia dos corpos e da naturalização do binário.
Ao contrário do que parece pensar quem crê na existência da “ideologia de gênero” – e também de acordo com a falta absoluta de registros históricos de ativistas e teóricos feministas e queer adentrando salas de parto, igrejas e lares, ameaçando violentamente obstetras, doulas, padres e famílias caso definam o gênero de infantes ou celebrem uniões amorosas entre homens e mulheres – não existe uma milícia treinada para impor androginia compulsória.Quem estuda gênero parte do pressuposto de que já existe uma ideologia dominante de gênero: aquela que promovida pelo que feministas ao longo da história chamam de patriarcado, que é fortemente constituído através do que a poeta Adrianne Rich denominou de heterossexualidade compulsória, ou seja, a heterossexualidade assumida como natural e superior aplicada por uma sociedade machista para manter mulheres e a comunidade LGBTQI em subjugação.
A comunidade científica e estudiosos do tema sabem que o termo “ideologia de gênero” tem origem nos setores mais conservadores de instituições cristãs, que subvertem o conceito dos estudos de gênero para descreve-lo como uma imposição autoritária.
Visto que isso não confere, podemos pensar no ataque veemente ao não-conceito como frenesi de pânico moral. Atacar um não-conceito sem ter conhecimento sobre a origem de seus significados faz com que cidadãos desavisados, em pânico, participem ativamente de narrativas verdadeiramente mentirosas.
Os estudos de gênero visam articular conhecimento a partir das experiências de opressão que pessoas reais já sofrem, por conta de coisas como gênero e sexualidade.
Coisas como violência contra as mulheres e feminicídio, direitos reprodutivos e LGBTQI, masculinidades tóxicas, economia do cuidado, e participação política.
São estudos que informam estratégias de equidade, já que é inegável que vivemos em uma sociedade desigual, e não um projeto ideológico de domínio.
Judith Butler
➤ Leia também: Transgênero, fluido, intersexual: as novas palavras do léxico de gênero
 A filósofa Judith Butler: engana-se quem pensa que a caça às bruxas simbólica afete só feministas ou quem estuda gênero (Foto: Wanezza Soares)
A filósofa Judith Butler: engana-se quem pensa que a caça às bruxas simbólica afete só feministas ou quem estuda gênero (Foto: Wanezza Soares)
Judith Butler, a intelectual norte-americana que esteve recentemente no Brasil como organizadora e participante do colóquio “Os fins da democracia”, no SESC Pompeia, em São Paulo, é autora de obras fundamentais para os estudos de gênero, como “Problemas de Gênero” e “Corpos que Importam”.
Foi ela quem propôs o conceito de performatividade, indicando que aquilo que pensamos como masculino e feminino não são essência, mas sim uma série de códigos culturais.
Butler não pode ser a inventora de um conceito que sequer existe, e em entrevista para Letícia Bahia, da Revista AzMina, declarou conhecer bem os equívocos a respeito dos significados do termo gênero.
Ela reforçou que a perspectiva dos estudos sobre o tema não nega diferenças biológicas entre os sexos, mas nos permite perguntar como essas diferenças são organizadas e como podemos refletir sobre a relação entre biologia e cultura, salientando que formas tradicionais de existência para mulheres e homens podem muito bem coexistir com formas menos tradicionais.
Tive o prazer de assisti-la ao vivo em 2012, numa mesa sobre paternalismo e governabilidade organizada pela Anistia Internacional de Londres. Na ocasião o que mais me impressionou não foi a sagacidade da filósofa, com a qual então eu já estava familiarizada, mas sim sua generosidade. A mesa era composta por ela e outros dois pesquisadores de gênero e ciências políticas, e suas falas eram, de longe, as mais compreensíveis.
 Ela parecia saber disso, tanto que sintetizava os pontos de seus colegas antes de proceder nas réplicas, muito para o alívio da plateia, que visivelmente entendia melhor o que os panelistas articulavam depois que ela resumia seus argumentos. Num momento de fofura, ela chegou a atender o telefone, pedindo ao público que a perdoasse por render-se às demandas de sua mãe judia.
Ela parecia saber disso, tanto que sintetizava os pontos de seus colegas antes de proceder nas réplicas, muito para o alívio da plateia, que visivelmente entendia melhor o que os panelistas articulavam depois que ela resumia seus argumentos. Num momento de fofura, ela chegou a atender o telefone, pedindo ao público que a perdoasse por render-se às demandas de sua mãe judia.
Em 2015 ela esteve no Brasil, e com exceção do movimento feito por círculos acadêmicos que já a utilizavam como referência de pesquisa, sua visita mal causou notícias.
Meros dois anos depois, e pouco antes de seu retorno ao País, uma petição no site CitizenGo, pedindo pelo cancelamento do evento e chamando-a de idealizadora e principal promotora da “nefasta ideologia de gênero”, recebeu mais de 360 mil assinaturas.
Na manhã da terça-feira 7 de novembro cerca de 70 manifestantes protestaram, em frente ao SESC, contra ela – a mulher que pausou uma fala pública para falar com a mãe ao telefone – “pela família” e “pela tradição”, tendo inclusive incinerado uma boneca com o rosto da filósofa aos gritos de “queimem a bruxa!”.
É bastante sintomático que em um evento sobre os fins da democracia tentem silenciar uma fala que sequer está na programação – Butler somente falou sobre gênero em entrevistas concedidas a diversos veículos de mídia. É também bastante sintomático do machismo que envolve o afã autoritário que assola a nação que ela seja representada como uma bruxa.
A imagem da bruxa, ao longo da história, é a manifestação máxima do medo e do ódio direcionado a mulheres que ousam existir de formas autônomas. Mas engana-se quem pensa que a caça às bruxas, neste caso ainda meramente simbólica, afete somente as feministas ou pessoas dedicadas aos estudos de gênero.
Há em curso um projeto político muito bem orquestrado contra as mulheres e a população LGBTQI. Um projeto cujo crescimento exponencial vem sendo apontado por feministas desde pelo menos a abundância de misoginia que marcou a campanha a favor do impeachment de Dilma Rousseff, o que muitas vezes foi confundido com uma defesa cega da ex-presidente.
Crise e direitos das mulheres
 “Basta uma crise política, econômica e religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados”. A famosa citação de Simone de Beauvoir, comumente invocada por feministas em momentos de desestabilidade social, hoje ecoa explicitamente na realidade.
“Basta uma crise política, econômica e religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados”. A famosa citação de Simone de Beauvoir, comumente invocada por feministas em momentos de desestabilidade social, hoje ecoa explicitamente na realidade.
Na quarta-feira 8 de novembro uma comissão especial da Câmara dos Deputados votou a favor de significativa mudança no texto da PEC 181/2015 na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Originalmente criada para aumentar o tempo de licença-maternidade em casos de bebês nascidos prematuramente, a mudança proposta para o texto da PEC inclui uma espécie de “estatuto do nascituro” a ser acoplado na emenda constitucional, passando a determinar que a vida começa na concepção.
Caso seja concretizada, a alteração que ainda precisa passar pela Câmara depois seguir para o Senado significa a proibição do aborto em todos os casos, incluindo os já garantidos como direito por lei desde 1940 (na gravidez decorrente de estupro ou com risco de vida à gestante) e 2012 (na gravidez marcada por anencefalia fetal).
A Comissão era composta por 18 homens e uma mulher, a deputada Erika Kokay (PT-DF), a única a votar contra a alteração. Dezoito homens votaram a favor da criminalização do aborto até em casos de estupro e risco de vida para as mulheres.
A misoginia e a violência institucionalizada contra as mulheres, que sempre existiram no Brasil, parecem estar em franca ascensão no que diz respeito à organização do Estado, que vem se valendo de princípios religiosos fundamentalistas para retirar nossos direitos e controlar nossos corpos e vidas.
Mas assim como não aceitamos caladas a confusão causada pelo não-conceito “ideologia de gênero”, e assim como não aceitamos caladas as manifestações fascistoides em favor do cancelamento da fala de Judith Butler, não vamos aceitar caladas mais este retrocesso.
Atos e protestos acontecerão em todo o País na segunda-feira 13 de novembro, então vamos toda às ruas, pelas nossas vidas e por nossos direitos.
Um minuto, por favor…
O bolsonarismo perdeu a batalha das urnas, mas não está morto.
Diante de um país tão dividido e arrasado, é preciso centrar esforços em uma reconstrução.
Seu apoio, leitor, será ainda mais fundamental.
Se você valoriza o bom jornalismo, ajude CartaCapital a seguir lutando por um novo Brasil.
Assine a edição semanal da revista;
Ou contribua, com o quanto puder.