Mundo
Teatro de guerra
Por ora, Israel e Irã limitam-se a bravatas, mas qualquer passo em falso é capaz de entornar o caldo

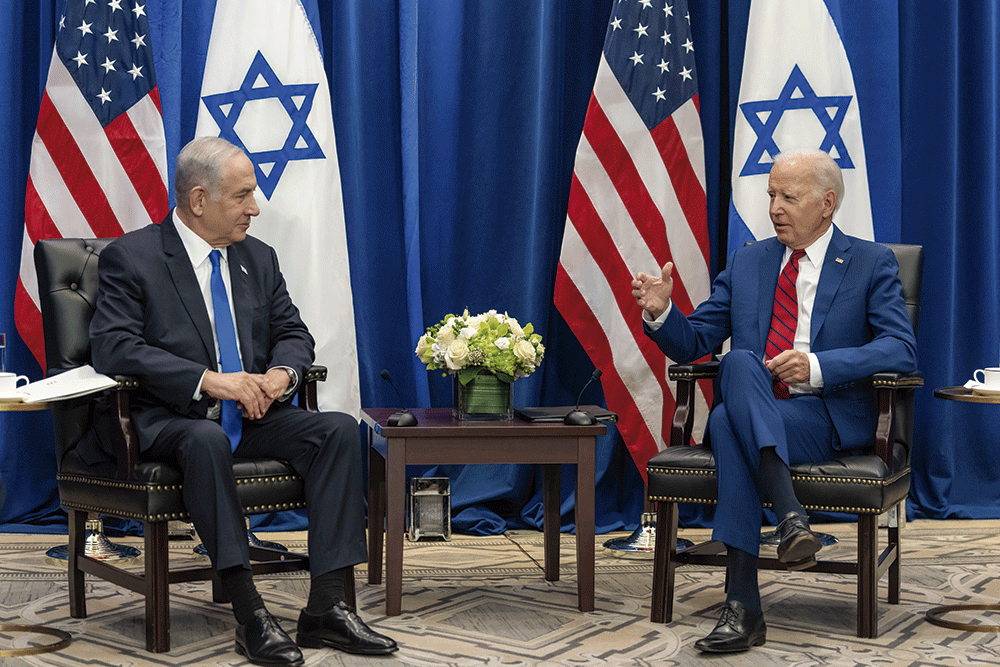
A reunião do “gabinete de guerra” israelense na terça-feira 16, o terceiro encontro desde o lançamento dos mísseis e drones pelo Irã no sábado 13, manteve o suspense. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, promete revidar, mas não disse quando nem com qual intensidade. Desenrola-se, por enquanto, uma coreografia em campo minado, na qual um único passo em falso pode provocar a definitiva escalada do conflito no Oriente Médio, além das costumeiras ameaças. Enquanto Daniel Hagari, porta-voz das Forças Armadas de Israel, garante que os agressores “não ficarão impunes”, Ebrahim Raisi, presidente iraniano, adverte: o “menor movimento” contra o país receberá em troca “uma resposta feroz, generalizada e dolorosa”.
Pelo histórico, antigo e recente, é pouco provável que Netanyahu, cuja permanência no poder depende do prolongamento da ocupação na Faixa de Gaza e da provocação aos inimigos na região, atenda aos apelos dos aliados ocidentais por algum grau de moderação na desforra. O desespero e a irresponsabilidade do premier, acuado internamente, tornam imprevisível o desfecho do confronto. Uma escalada no embate com Teerã inevitavelmente envolveria os Estados Unidos, a contragosto. Por força de atração, viriam o Reino Unido e a União Europeia, e de repulsa, a China e a Rússia. Seis meses de esforços diplomáticos iriam pelo ralo.
Não é prudente descartar o cálculo político israelense ao atear fogo no “parque”. A matança indiscriminada em Gaza afastou velhos parceiros, a ponto de os Estados Unidos enviarem a Tel-Aviv um claro sinal de descontentamento ao se abster na votação do Conselho de Segurança das Nações Unidas que aprovou a resolução pelo imediato cessar-fogo. Um certo abandono norte-americano coincidiu com o crescente número de líderes mundiais que finalmente passaram a usar a palavra correta para descrever a vingança contra os palestinos: genocídio. Uma capa recente da revista britânica The Economist, porta-voz da elite financeira global e insuspeita de “antissemitismo”, deu o tom. “Israel sozinho”, dizia o título. De repente, uma bomba lançada contra a embaixada do Irã em Damasco, na Síria, mata dois generais e cinco oficiais da Guarda Revolucionária, ataque negado por Israel e que viola as mais básicas regras das leis internacionais. Uma violência assim descrita por especialistas independentes a serviço da ONU: “Todos os países estão proibidos de privar arbitrariamente os indivíduos do seu direito à vida em operações militares no estrangeiro, inclusive no combate ao terrorismo. Os assassinatos em territórios estrangeiros são arbitrários quando não são autorizados pelo direito internacional”.
Netanyahu aproveita a oportunidade para trocar a imagem de agressor pela de agredido
A sequência dos fatos não fugiu ao script. O alerta dos aiatolás, anunciado com prudente antecedência, pareceu ter o objetivo de dar uma satisfação aos iranianos. Dos 300 drones e mísseis, lançados de bases distantes dos alvos, 99% foram interceptados pelo sistema de defesa israelense, por navios dos EUA e por parceiros no Oriente Médio. Os poucos que driblaram os escudos de defesa e entraram em território israelense atingiram alvos militares sem danos graves à infraestrutura nem mortes. As ruas de Teerã andam, no entanto, repletas de nacionalistas em festa, orgulhosos da retaliação ao “pequeno Satã”. Ao mesmo tempo, Netanyahu livrou-se momentaneamente da imagem de agressor – e de violador do direito internacional – e adotou as vestes humildes de agredido. Bom para o premier, bom para os parceiros ocidentais, em particular os Estados Unidos, novamente autorizados a ignorar a barbárie contra os palestinos, a pregar o direito inalienável de Israel à autodefesa e a investir contra o inimigo preferido na região, o Irã.
O presidente norte-americano, Joe Biden, às voltas com a campanha presidencial, aproveitou a deixa. No domingo 14, poucas horas depois do ataque iraniano, o democrata, sempre pronto a bloquear qualquer sanção a Israel, convocou uma reunião do G7 e do Conselho de Segurança da ONU para propor medidas contra Teerã. Por conta do bloqueio de China e Rússia, a reunião terminou em impasse. Embora tenha condenado de maneira inequívoca o ataque iraniano, António Guterres, diretor-geral das Nações Unidas, voltou a clamar por um cessar-fogo e pela paz. “É o momento de recuar do abismo”, discursou, “para evitar qualquer ação que possa levar a grandes confrontos militares em múltiplas frentes no Oriente Médio”. Em paralelo, Washington anunciou a intenção de adotar novos bloqueios econômicos e financeiros contra o regime dos aiatolás, mas rejeitou, por ora, uma ação militar em apoio a Israel.
Em meio ao teatro da guerra, o drama dos palestinos ficou em segundo plano, o que não significa uma melhora na situação. Ao contrário. Na quarta-feira 17, o bombardeio de um mercado no campo de refugiados de Maghazi deixou ao menos 56 mortos. O número de vítimas fatais desde o início dos ataques israelenses, em outubro, aproxima-se dos 35 mil. Segundo a ONU, cerca de 40% da ajuda humanitária foi ou tem sido bloqueada na fronteira de Gaza, o que aumenta a fome da população, limita o atendimento médico e agrava as doenças. “Lidamos com essa dança: damos um passo para a frente, dois para trás, ou dois passos para a frente, um passo para trás, o que nos deixa basicamente no mesmo ponto”, lamenta Andrea De Domenico, chefe do escritório de coordenação de Assuntos Humanitários no Território Palestino Ocupado. “Para cada nova oportunidade encontraremos mais um desafio. Água, saneamento e saúde são fundamentais para conter a fome.”
P.S.: O jornalismo, como de costume, é outra vítima. Além dos cerca de 70 profissionais mortos em Gaza até o momento e da expulsão da rede de tevê Al Jazeera de Israel, por sua cobertura crítica em relação ao governo Netanyahu, o jornal norte-americano The New York Times baixou um édito interno. Ao escrever sobre os acontecimentos na região, os funcionários da casa estão proibidos de usar os seguintes termos: “genocídio”, “limpeza étnica” e “território ocupado”. Tudo, é claro, em nome da precisão e da imparcialidade. •
Publicado na edição n° 1307 de CartaCapital, em 24 de abril de 2024.
Este texto aparece na edição impressa de CartaCapital sob o título ‘Teatro de guerra’
Apoie o jornalismo que chama as coisas pelo nome
Depois de anos bicudos, voltamos a um Brasil minimamente normal. Este novo normal, contudo, segue repleto de incertezas. A ameaça bolsonarista persiste e os apetites do mercado e do Congresso continuam a pressionar o governo. Lá fora, o avanço global da extrema-direita e a brutalidade em Gaza e na Ucrânia arriscam implodir os frágeis alicerces da governança mundial.
CartaCapital não tem o apoio de bancos e fundações. Sobrevive, unicamente, da venda de anúncios e projetos e das contribuições de seus leitores. E seu apoio, leitor, é cada vez mais fundamental.
Não deixe a Carta parar. Se você valoriza o bom jornalismo, nos ajude a seguir lutando. Assine a edição semanal da revista ou contribua com o quanto puder.
Leia também

Após ataques, União Europeia vai impor sanções à indústria iraniana de drones e mísseis
Por AFP
Israel x Irã: risco de escalada é grande e a postura do Brasil é correta, diz Rubens Ricupero
Por Leonardo Miazzo





