Mundo
Luto e catarse
A fila de 8 quilômetros no funeral da rainha Elizabeth traduz os impulsos mais rudimentares
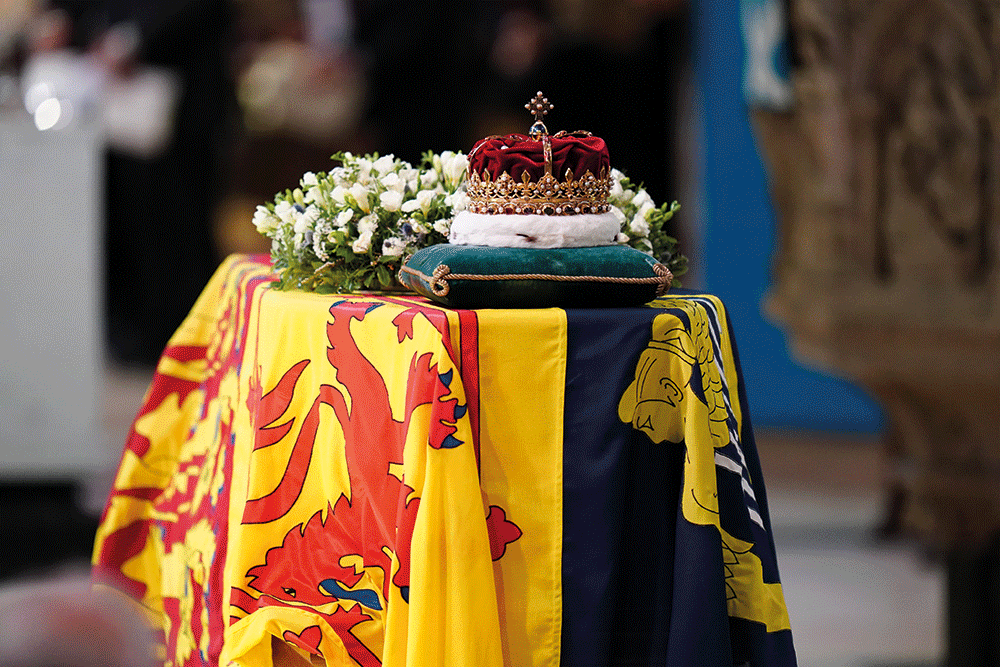
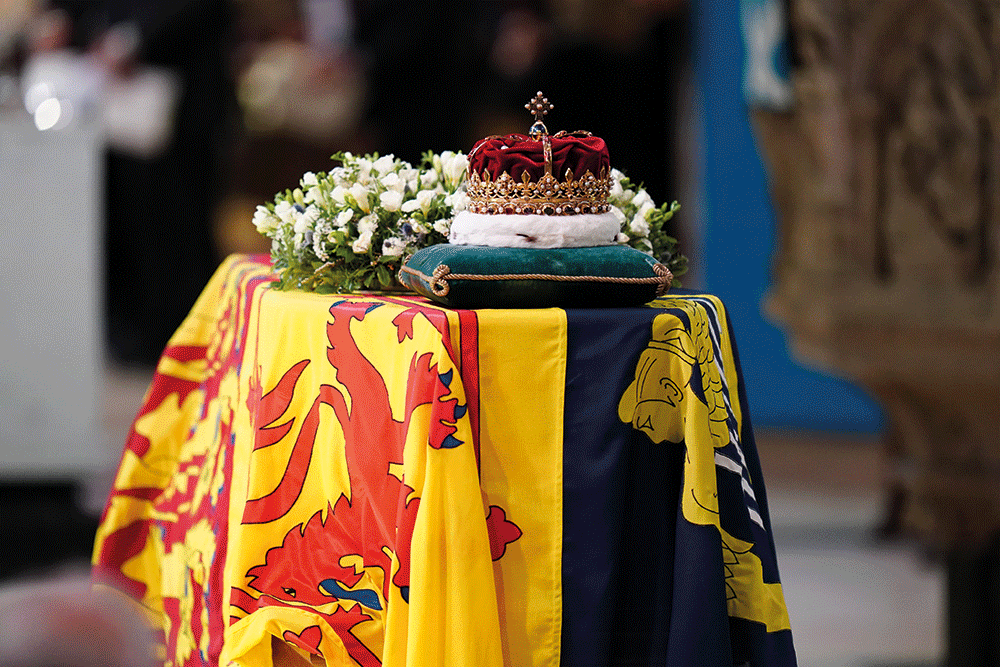
O camarote da imprensa para o velório da rainha é uma construção discreta de madeira, pintada para combinar perfeitamente com as antigas paredes de Westminster Hall. Embora estivesse a uma distância discreta do catafalco em que repousava seu caixão, o local oferece um ponto de vista único, semelhante a estar nos bastidores de um teatro. Aqui pudemos observar tanto a plateia, quero dizer, o público, que desfila silenciosamente, quanto os atores, na forma da guarda que mantém vigília ininterrupta.
Os jornalistas não precisaram fazer fila para o velório de corpo presente da rainha, mas as vagas disponíveis são difíceis de encontrar, e por isso estava ali às 11 horas da noite. Achei que poderia me incomodar com isso, mas vejo que não. De alguma forma, a hora tardia só reforçou a atmosfera, ao mesmo tempo eletrizante e inefavelmente pacífica. Como explicá-la? Como colocar em palavras?
Em casa, é fácil ser cínico: as multidões, a fila, a enjoada sensação de teatralidade. Mas, no silêncio, tudo desapareceu. O mais chocante, ao menos para mim, não é o fato de a soberana estar deitada ali em um caixão. É que foi preciso ela morrer para impedir que as pessoas – ou ao menos essas pessoas – olhassem para suas telas. Os celulares são proibidos. Os visitantes devem olhar com os olhos e não com os antebraços levantados, e olhar com os olhos estimula o pensamento. Sentimentos se precipitam, emoções às quais não sou mais imune do que qualquer outro.
O que todas elas estavam pensando? São de todas as cores e credos, idades e classes possíveis. Algumas lutam para andar, apoiam-se pesadamente em bengalas e muletas. Outras, apesar de terem esperado horas para chegar a esse ponto, olham como se estivessem no retorno do escritório para casa. Algumas carregam Louis Vuittons e algumas M&S de plástico. Algumas usam ternos escuros e saltos altos, e algumas, agasalhos e tênis.
Havia gente de todas as cores e credos, idades e classes
Era difícil prever quem parecerá emocionado. Do homem de sobretudo preto, chapéu-coco e medalhas, e o de camiseta dos Sex Pistols, é o fã de Johnny Rotten quem parece prestes a chorar, com o rosto franzido como o de um menino. Ninguém fala. Nem sussurra. Uma tosse perdida, no vasto espaço sob o maior telhado de madeira medieval do Norte da Europa, é tão alta quanto um tiro.
Depois de meia hora, saímos em fila. Mais uma vez, aquela sensação de bastidores: garrafas de água nos parapeitos, meio bebidas pelos porteiros ressequidos do Palácio de Westminster. Um policial cuidadosamente a vestir luvas brancas. A atividade é intensa nesta colmeia cerimonial, responsabilidade assumida por dezenas de voluntários e funcionários. Billy, o jovem que me guiou na hora marcada, trabalha em comunicações para comitês selecionados. Mas segurar minha mão esta noite não tem nada a ver com o trabalho dele. “É ótimo fazer parte disso”, ele me diz. A que horas ele vai dormir? “Vou terminar às 7 da manhã”, responde com perfeito entusiasmo.
Sinto-me como me senti no início da semana ao assistir às várias cerimônias e desfiles. A organização implacável, a precisão requintada, a beleza transcendental. Como essas coisas são possíveis num país onde nenhum trem parece estar no horário? Onde há tanta coisa quebrada, feia e negligenciada?
As ruas próximas do Palácio de Westminster estão fechadas ao trânsito e, lá fora, caminho um pouco. É quase meia-noite. Sem carros, há um espírito de festival, gente circula, estranhos conversam. Encontro a fila. Ela move-se a uma velocidade surpreendente. Os presentes acenam com suas pulseiras para os seguranças como se exibissem uma nova joia: um balanço de mão agora tão praticado que é quase régio. O clima é sorridente e gracioso. Ela avança sobre salgadinhos com sabor de carne.
 Cerimonial. O rei Charles e o príncipe William agradecem aos súditos. O enterro tornou-se mais um evento turístico em Londres – Imagem: The Royal Family Official
Cerimonial. O rei Charles e o príncipe William agradecem aos súditos. O enterro tornou-se mais um evento turístico em Londres – Imagem: The Royal Family Official
Ao caminhar pela ponte de Westminster, começo a conversar com um policial, seus antebraços nus no calor fora de época desta noite de setembro. Ele é de Humberside. Quando chegou? “No domingo. Fomos avisados duas horas antes. Estou num hotel em Hammersmith.” Gosta de sua mobilização histórica? Ele sorri. “Sim.” Ele olha para o Big Ben, a torre magnífica contra o céu azul-marinho e nuvens cuja fofura sedosa me faz pensar, apropriadamente nas circunstâncias, em traveller’s joy (a erva daninha conhecida como barba-de-velho). “Quero dizer, você não tem isso em Hull, tem?”
O clima da nação. Os britânicos falam em medi-lo, como se bastasse usar um termômetro. Mas não é tão fácil, claro. Somos um país de 67 milhões de almas. Temos razão em desconfiar daqueles remansos da mídia que insistem em uma universalidade de sentimento, em desconfiar dos comentaristas admoestadores que falam autoritariamente sobre “a população”. A história nos ensina que há sempre uma lacuna entre o dito e o feito e visto. Nossos ancestrais não eram mais fáceis de ler do que nós, e menos homogêneos do que poderíamos imaginar, quando se tratava da questão do luto público. “Esta manhã, vi o que pude, sobre as cabeças do cortejo fúnebre da rainha”, escreveu Arnold Bennett em seu diário em 2 de fevereiro de 1901 (a rainha Vitória morreu em 22 de janeiro). “As pessoas não estavam, em geral, profundamente comovidas, por mais que digam os jornalistas, e sim serenas e alegres.” Pode ser que nós mesmos estejamos divididos. Vejo a vitrine da loja Marie Curie local, os manequins agora usam vestidos pretos e pérolas, e isso me causa um nó na garganta. Leio o e-mail da Ryman’s, que descreve roboticamente o respeito da papelaria pela falecida monarca, e sinto-me intensamente irritada.
Mas o ritual é importante, e não há como descontar a necessidade de alguns britânicos agora. A fila serpenteante, com seus 8 quilômetros, fala de nossos impulsos mais rudimentares, quase instintos, que no século XXI pagão têm cada vez menos canais de expressão. As gerações passadas sabiam chorar: as viúvas se vestiam de preto, joias feitas de azeviche e mechas do cabelo do morto. Os homens usavam chapéus pretos e braçadeiras. Eles entendiam que essas coisas não eram apenas uma questão de forma, mas também úteis: um sinal, para os não enlutados, da condição agonizante de alguém e um purgante para o sofrimento. Muito antes de conhecer a palavra “catarse”, eu tinha uma ideia do seu significado. Quando eu era muito pequena, meus avós, em Sunderland, seguiam a tradição e mantinham as cortinas fechadas na manhã do funeral de um vizinho. “Pense como será bom quando as abrirmos mais tarde”, vovó me disse quando expressei frustração. Na tarde de segunda-feira, quando o funeral da rainha finalmente terminar, muitos na Grã-Bretanha experimentarão algo semelhante: uma libertação, uma sensação de sol após a escuridão.
É da natureza humana tentar dar sentido às coisas que fazem menos sentido, e a morte é a maior delas
Quando olho para a fila, lembro-me de outra. Em 1954, quando os arqueólogos começaram a escavar o templo romano de Mitra na cidade de Londres, cerca de 400 mil homens, mulheres e crianças acorreram em um período de duas semanas para ver o que se passava. A multidão era tão grande que a polícia foi obrigada a controlá-la. Por quê? Parece óbvio agora que, por maior que fosse seu interesse por mosaicos, os curiosos estavam inconscientemente a aceitar a horrível estripação de suas cidades. Eles haviam suportado a Blitz, viviam em ruas cheias de crateras.
A morte da rainha se segue à pandemia. Não deve haver um único indivíduo na fila do velório que não perdeu, ou conhece alguém que perdeu, um amigo, um colega ou um parente para a Covid, e que também teve de renunciar, por causa das restrições, a um funeral adequado, o conforto de coros e rezas.
É da natureza humana tentar dar sentido às coisas que fazem menos sentido, e a morte é a maior delas: a “coisa distinta”, como disse Henry James, e a coisa insondável. Quando alguns falam sobre a sua rejeição confusa às massas que depositam flores diante de nossos palácios reais – tudo isso para uma mulher que não conheciam? –, seu tom, aos meus ouvidos, é semelhante ao modo como às vezes se fala daqueles que votaram no Brexit. Acho isso imprudente, mas também acho que eles querem empatia. É natural olhar para uma família enlutada e pensar em suas próprias perdas. É natural preocupar-se com o que uma morte como esta significa Acima de tudo, é natural emocionar-se com a história, a música e a poesia. Com a arquitetura que eleva os olhos aos céus e com as palavras que queimam e acalmam a alma. •
Tradução de Luiz Roberto M. Gonçalves.
PUBLICADO NA EDIÇÃO Nº 1227 DE CARTACAPITAL, EM 28 DE SETEMBRO DE 2022.
Este texto aparece na edição impressa de CartaCapital sob o título “Luto e catarse “
Apoie o jornalismo que chama as coisas pelo nome
Depois de anos bicudos, voltamos a um Brasil minimamente normal. Este novo normal, contudo, segue repleto de incertezas. A ameaça bolsonarista persiste e os apetites do mercado e do Congresso continuam a pressionar o governo. Lá fora, o avanço global da extrema-direita e a brutalidade em Gaza e na Ucrânia arriscam implodir os frágeis alicerces da governança mundial.
CartaCapital não tem o apoio de bancos e fundações. Sobrevive, unicamente, da venda de anúncios e projetos e das contribuições de seus leitores. E seu apoio, leitor, é cada vez mais fundamental.
Não deixe a Carta parar. Se você valoriza o bom jornalismo, nos ajude a seguir lutando. Assine a edição semanal da revista ou contribua com o quanto puder.



