Mundo
A Inglaterra é ela
A monarca Elizabeth II reflete e ao mesmo tempo molda de forma sutil o mundo em que vivem os britânicos


Caía um temporal quando cheguei ao Finsbury Park na terça-feira 31, fato que, dada a dubiedade da minha missão, só serviu para me deixar ainda mais furtiva. Todo mundo corria para todo lado no meio da chuva, na tentativa de fazer as compras, pegar o ônibus ou recolher os filhos, mas eu estava ali, em fuga do trabalho, com a intenção de passar o resto da tarde a assistir um filme sobre a rainha. Haveria alguém além de mim na sessão das 16 horas do documentário do falecido Roger Michell, Elizabeth: A Portrait in Parts (Elizabeth: Um Retrato em Partes), num cinema novo e brilhante em uma das partes mais diversificadas e visivelmente livres de bandeiras de Londres? Imaginei algumas aposentadas com as bolsas no colo, mas mesmo elas pareciam uma perspectiva improvável.
Com certeza, eu compunha exatamente a metade do público naquela tarde, os outros 50% eram uma jovem que parecia quase tão esquiva quanto eu. Mas então o filme começou, e todas essas coisas – frieza, cinismo, a sensação de que hoje em dia no Reino Unido é quase um dever ser republicano – desapareceram. O filme de Michell, bem na moda, não tem narradores. Não há biógrafos da realeza a tagarelar, nem correspondentes da realeza ansiosos a fingir que sabem mais do que sabem.
Em vez disso, é um mosaico: uma coleção de vídeos de arquivo, artisticamente organizados com músicas artisticamente escolhidas. De vez em quando, os súditos da monarca, do passado e do presente, têm a palavra. “Valeu a pena esperar”, anuncia uma velhinha em êxtase, que desmaiou depois de ficar muito tempo de pé numa festa no jardim real. “Ela cuida de todos nós”, explica uma garotinha com adenoide que está prestes a comemorar o jubileu de prata comendo a metade de seu peso corporal em creme amanteigado. Principalmente, é apenas uma imagem da rainha após a outra, organizadas em ordem estritamente não cronológica.
Como todo mundo, faço da rainha o que quero que ela seja, à revelia dos fatos
Às vezes, ela tem a cintura fina e, às vezes, carrega o peso da meia-idade. Às vezes, ela sorri, outras está sombria. A certa altura, Eamonn Andrews, mais conhecido hoje como o apresentador de This Is Your Life, aparece de repente e, por um momento, você experimenta uma breve confusão. O quê? A rainha está prestes a receber seu próprio Grande Livro Vermelho? Mas não. Em 1961, ao que parece, ela fez uma visita ao programa infantil de televisão Crackerjack, quando Andrews lhe deu um conjunto de lápis Crackerjack para Anne e Charles – e ela nem precisou jogar “Dobra ou Desiste”.
Enquanto eu observava, vários pensamentos flutuavam em minha mente. Desejei, brevemente, que os chapéus voltassem. Considerei, com ressentimento, a forma como o bolo de fadas foi substituído pelo cupcake. Lembrei-me, também, da noite em que, ainda jovem jornalista, fui revistada por um segurança do jornal onde trabalhava, para o caso de sair do prédio com uma cópia ilícita de trechos do livro Diana, Sua Verdadeira História, de Andrew Morton, na minha bolsa. Acima de tudo, pensei, com crescente admiração, sobre o tempo e como ele passa, e em como a rainha, por força tanto de sua idade quanto de sua posição singular, nos conecta à história, aos acontecimentos, grandes e pequenos.
Você não precisa ser do tipo que se levanta alegremente ao som do hino nacional para sentir uma sensação de admiração, talvez até um pequeno nó na garganta, ao ver a rainha a descrever, cerca de uma década depois, seu retorno a Londres no iate real Britannia, depois de uma longa viagem ao Caribe em 1954. Winston Churchill tinha subido a bordo em algum momento, um primeiro-ministro que, segundo todos os relatos, era apaixonado pela jovem Elizabeth – e, ao contrário dela, não via o Tâmisa como sujo e industrial (ainda havia docas por toda parte).
Ao passar pela multidão nas margens do rio, ele o descreveu como “um fio de prata”, que percorria não apenas a cidade, mas a história nacional da Grã-Bretanha – e, graças a isso, ela disse que, de repente, se viu sob uma luz bem diferente. O sorriso dela, a essa altura, parecia sugerir que se lembrava de Churchill como ridícula e maravilhosamente sentimental, como um ser humano que tinha acesso a pensamentos e emoções muitas vezes totalmente estranhos a ela, e que eram ainda mais atraentes por isso.
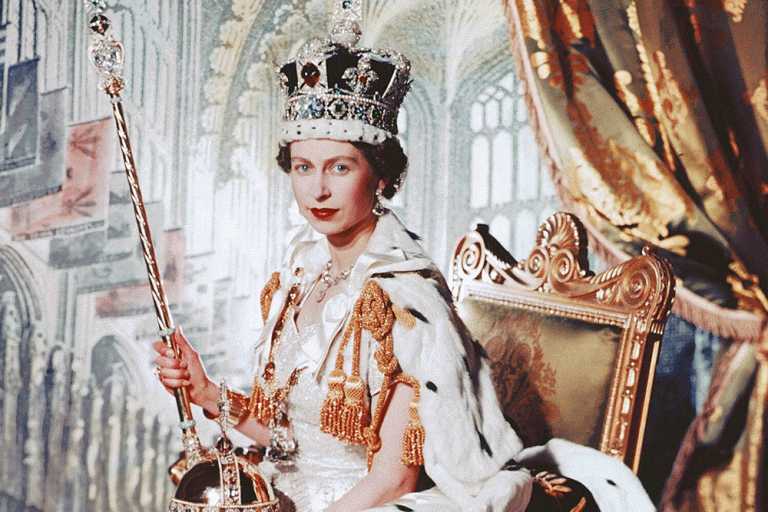 Pré-história. A mais longeva rainha, maquiada na posse pela nora de Oscar Wilde, que na infância ouviu histórias do criador de Peter Pan e, como monarca, condecorou os Beatles, teve sua imagem refletida na mitológica Stonehenge – Imagem: Royal Collection Trust e Stonehenge E.H
Pré-história. A mais longeva rainha, maquiada na posse pela nora de Oscar Wilde, que na infância ouviu histórias do criador de Peter Pan e, como monarca, condecorou os Beatles, teve sua imagem refletida na mitológica Stonehenge – Imagem: Royal Collection Trust e Stonehenge E.H
Mas é claro que não posso ter certeza disso, nem de nada. Como todo mundo, faço da rainha o que quero que ela seja, independentemente dos fatos, que de qualquer forma são escassos. Um dos livros mais estranhos sobre ela, de todas as centenas e milhares que foram publicados desde que ascendeu ao trono, em 1952, certamente é The Crown Dissected (A Coroa Dissecada), em que Hugo Vickers, “uma autoridade reconhecida” sobre a família real, corrige cuidadosamente os “fatos” como são retratados em cada episódio de The Crown, a longa série da Netflix.
Ao ler essa peculiar exibição de pedantismo, só podemos pensar: isso não vai mudar nada. Uma coisa é saber, como sei agora, que a rainha não nasceu num palácio, mas em uma casa geminada na Bruton Street, em Mayfair (a casa londrina de seu avô materno), numa época (1926) em que ainda havia um velho soldado vivo que poderia descrever a Carga da Brigada Ligeira (porque ele – seu nome era Edwin Hughes – tinha participado dela). Outra é insistir em humores, opiniões e sentimentos. Nós decidimos o que pensamos sobre essas coisas – a rainha foi, por exemplo, terrivelmente fria ao permanecer fechada com sua família em Balmoral após a morte de Diana. Isto é, até que ela voltou a Londres para falar com a multidão, e nesse ponto ela era apenas uma avó protetora – e isso é a metade do ponto da monarquia. O mistério que envolve a rainha, o fato de ela ser, e sempre ter sido, um repositório de nossas altas emoções, é seu maior patrimônio. O maior problema de Charles, quando ele se tornar rei, será que sabemos demais sobre ele?
Mas, enfim: fatos. Atenha-se a eles e não há como fugir da simples verdade de que a monarca reflete e ao mesmo tempo molda sutilmente o mundo em que vivemos. Que ela mesma é um fio de prata (neste ponto, platina) que percorre a nossa história coletiva, gostemos ou não. Quase ninguém vivo se lembra de uma época em que ela não estivesse aqui, como princesa ou rainha. Quando desceu do avião que a trouxe do Quênia para casa após a morte de seu pai, George VI, o racionamento de guerra ainda estava em vigor. Não havia autoestradas nem supermercados. A Grã-Bretanha ainda tinha a pena de morte. A guerra da Coreia ainda era travada. Ali estava uma rainha nova e brilhante, mas as mulheres na Grã-Bretanha ainda não podiam fazer hipotecas em seu próprio nome, nem receber um diafragma sem primeiro apresentar uma certidão de casamento (a pílula ainda não tinha sido inventada).
Suez, o escândalo Profumo, a guerra das Malvinas, a queda do Muro de Berlim: ela viu tudo isso
Além disso, tratava-se de uma jovem que, quando criança, ouvira histórias contadas por J.M. Barrie, o autor de Peter Pan. Em cujas casas recém-herdadas os cozinheiros ainda usavam panelas de cobre gravadas com as iniciais VR (de Victoria Regina, segundo Robert Hardman, autor do recente Queen of Our Times, eles fazem isso até hoje) e cuja maquiagem, em sua coroação, seria feita pela nora de Oscar Wilde. A fortaleza que muitos sentem que lhe valeu durante os 70 anos de seu reinado, existente em 1952, nasceu muito do passado. Ao contrário de muitos outros integrantes da realeza europeia, Elizabeth e sua irmã, Margaret, não foram enviadas para o exterior durante a Segunda Guerra Mundial, anos em que o Palácio de Buckingham sofreu nada menos do que nove ataques diretos, o rei temia constantemente que o abrigo antiaéreo real fosse muito frágil e os terrenos de Sandringham House, em Norfolk, foram arados, para que as meninas pudessem cultivá-los.
Volte seu olhar para a frente, por outro lado, e essa é a mesma mulher que entregará aos Beatles as medalhas da Ordem do Império Britânico e a Copa do Mundo ao capitão da Inglaterra, que conhecerá homens – Buzz Aldrin, Michael Collins e Neil Armstrong – que caminharam na Lua, que abrirá, apesar da desaprovação da mãe, o túnel sob o Canal da Mancha. Ela jantará com Boris Yeltsin no país onde os Romanov, primos de seu marido, foram assassinados, andará de carruagem pelas ruas de Londres com Nelson Mandela, sorrindo o tempo todo, e apertará a mão de Martin McGuinness, o político que foi comandante do IRA, grupo terrorista que assassinou Lorde Mountbatten, primo de seu pai e tio de seu marido. Os comentaristas costumam notar que a rainha conheceu nada menos que 14 presidentes norte-americanos em sua vida, de Truman em diante, mas, para mim, o fato mais surpreendente é que ela conheceu todos os primeiros-ministros trabalhistas que existiram (“Eu o vi na [revista] Punch esta manhã, senhor MacDonald conduzindo um bando de gansos!”, disse ela, ao ser apresentada a Ramsay MacDonald quando criança). Suez, o escândalo Profumo, a guerra das Malvinas, a queda do Muro de Berlim, a prorrogação do Parlamento, ela viu tudo isso.
A vida familiar, é claro, não foi simples – e, nesse sentido, ela é como nós e muito diferente de nós. O annus horribilis de 1992, em que a duquesa de York foi pega beijando pés que não eram do marido, o príncipe e a princesa de Gales se separaram e o Castelo de Windsor pegou fogo, não foi um caso isolado. Mais recentemente, houve as alegações de abuso sexual contra o príncipe Andrew e a decisão do duque e da duquesa de Sussex de dar uma entrevista a Oprah Winfrey, na qual sugeriram que a família real é racista. Mas talvez a rainha esteja mais bem equipada do que a maioria para suportar as atenções doentias que vêm com tais situações. Pode ser que ela tenha a capacidade de se isolar, de se compartimentalizar. Nunca se esqueça de que ela só é rainha porque seu irresponsável tio David preferiu uma americana duas vezes divorciada à coroa. Que ela também era irmã de uma mulher cuja vida privada era um dos pilares dos tabloides, e que usava sua grosseria da mesma maneira (segundo o satirista Craig Brown) que Tommy Cooper usava um fez. A rainha também é boa em esquecimento, algo que deve ser útil não apenas no Natal, mas ao conhecer gente como Donald Trump. •
Tradução de Luiz Roberto M. Gonçalves.
PUBLICADO NA EDIÇÃO Nº 1212 DE CARTACAPITAL, EM 15 DE JUNHO DE 2022.
Este texto aparece na edição impressa de CartaCapital sob o título “A Inglaterra é ela”
Apoie o jornalismo que chama as coisas pelo nome
Depois de anos bicudos, voltamos a um Brasil minimamente normal. Este novo normal, contudo, segue repleto de incertezas. A ameaça bolsonarista persiste e os apetites do mercado e do Congresso continuam a pressionar o governo. Lá fora, o avanço global da extrema-direita e a brutalidade em Gaza e na Ucrânia arriscam implodir os frágeis alicerces da governança mundial.
CartaCapital não tem o apoio de bancos e fundações. Sobrevive, unicamente, da venda de anúncios e projetos e das contribuições de seus leitores. E seu apoio, leitor, é cada vez mais fundamental.
Não deixe a Carta parar. Se você valoriza o bom jornalismo, nos ajude a seguir lutando. Assine a edição semanal da revista ou contribua com o quanto puder.



