Economia
Fôlego curto
Excepcionalidades ocorridas no governo anterior resultaram em algum alívio, mas a fatura vai chegar

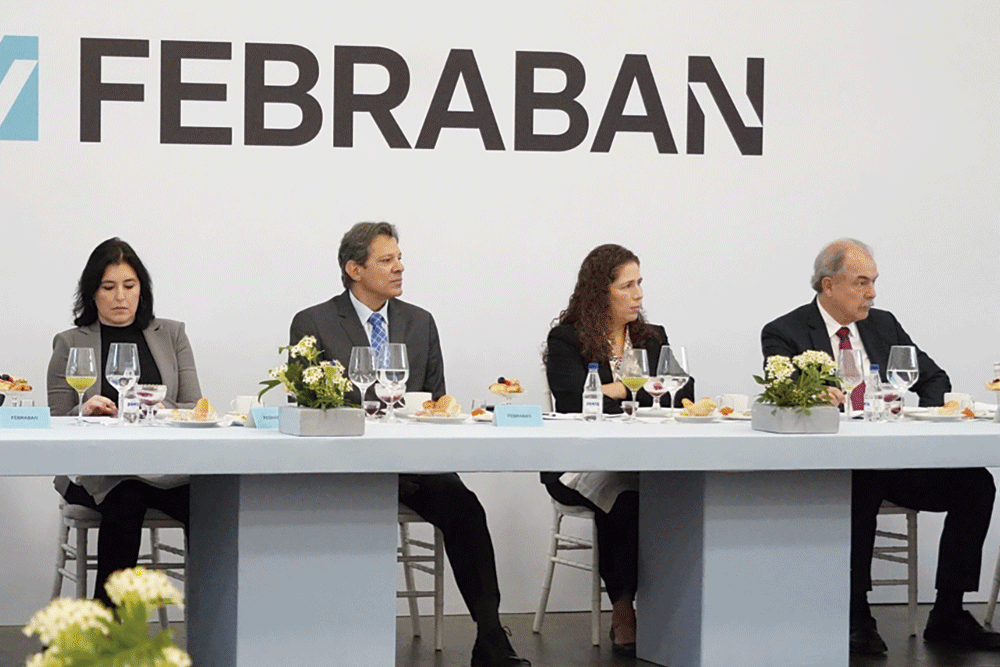
Completado um mês do novo governo, os principais indicadores do mercado mostram um cenário de calmaria, mesmo depois de Lula ter questionado a autonomia do Banco Central e a sua meta de inflação excessivamente baixa, temas sensíveis para as instituições financeiras. A situação está, entretanto, longe de ser confortável. Receitas infladas dos estados, antes das desonerações eleitoreiras, no governo anterior, e reduções dos desembolsos com a pandemia, não se repetirão neste ano e vários problemas, como a forte repressão salarial do funcionalismo, desafiam a nova administração. Restará algum fôlego, contudo, a partir de uma relação dívida bruta/PIB melhor, decorrente de situações excepcionais de 2022, como aquelas apontadas acima, enquanto se aguarda o novo arcabouço fiscal e a reforma tributária. A elevação da relação dívida bruta/PIB talvez seja a principal explicação para a trégua momentânea do terrorismo fiscal.
“Os juros estão um pouco acima da véspera da posse, mas o dólar está abaixo. A Bolsa voltou para 115 mil pontos, 116 mil pontos. É uma situação mais razoável, a não ser no caso da curva de juros, que é importante. Mas essa curva não se ampliou tanto assim. Em outubro e novembro, os juros subiram bem mais”, resume José Francisco Lima Gonçalves, economista-chefe do Banco Fator. É preciso lembrar, diz, que em novembro o mercado esperava alta da Selic em março deste ano, o que não deve acontecer. Na quarta-feira 1º, previa-se a manutenção, pelo Comitê de Política Monetária, da taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, em 13,75% ao ano, até 22 de março. Trata-se da segunda maior taxa do mundo, segundo o portal Trading Economics. O juro brasileiro vem logo abaixo do indicador da Argentina, em uma comparação de 18 países, mais os integrantes do bloco do euro. A baixa probabilidade de reduzi-la no curto e médio prazo é um dos desafios a serem enfrentados pelo governo.
Grande parte da dificuldade em reduzir os juros decorre, segundo vários economistas, de a ideia de independência dos Bancos Centrais ter-se transformado em uma mera apropriação dos BCs pelo setor financeiro privado, em contradição com o modelo do pós-guerra, quando as instituições públicas se preocupavam com o desempenho da economia e não apenas em mexer a taxa de juros por conta da meta de inflação. Essa apropriação é inegável e foi exposta por Lula, que desafiou quem se dispuser a provar que a independência do atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é maior do que aquela de Henrique Meirelles, ocupante do cargo durante governo do petista em período anterior à decretação da independência da entidade.
Diante do cenário, o ideal seria elevar a meta de inflação para 4% ao ano
Os riscos da política de aumento das taxas de juros são claros, adverte, entre outros economistas, o Nobel Joseph Stiglitz, em artigo publicado no domingo 26 no portal Project Syndicate. Uma economia global frágil pode ser empurrada para a recessão e precipitar mais crises de dívida, pois muitos países emergentes e em desenvolvimento altamente endividados enfrentam o triplo golpe de dólar forte, receitas de exportação mais baixas e taxas de juros mais altas. “Alguns dirão que a inflação permaneceu baixa precisamente porque os Bancos Centrais sinalizaram tal determinação em combatê-la. Meu cachorro Woofie poderia ter chegado à mesma conclusão sempre que latia para aviões sobrevoando nossa casa. Ele pode ter acreditado que os havia assustado e que não latir aumentaria o risco de o avião cair sobre ele”, ironiza Stiglitz.
A insistência em combater a inflação com juros altos pode ter consequências funestas, alertam especialistas como Lucrezia Reichlin, ex-diretora do Banco Central Europeu e professora de economia na London Business School. “O rápido aperto monetário contínuo pode trazer enormes custos econômicos. Também pode colher o redemoinho de uma reação que ameaça a independência do Banco Central”.
Lula defendeu uma meta de inflação de 4%, em lugar dos objetivos de 3,25% em 2023 e 3% estabelecidos para 2024 e 2025. O patamar reivindicado pelo presidente é o mesmo dos seus dois primeiros mandatos. “Na Fazenda ainda não estamos fazendo a discussão da meta, esse tema só será pautado no Conselho Monetário Nacional no meio do ano”, esclarece o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello.
O Brasil adotou o regime de metas de inflação em 1999, com objetivo inicial de 8%, diminuído até 3,25% em 2003. Entre 2001 e 2003, a inflação permaneceu acima do teto e optou-se por definir uma mais realista, de 4,5%, que vigorou entre 2005 e 2018, quando o IPCA subiu 5,6% ao ano. A partir de 2019, as metas encolheram e chegaram a 3% para 2024 e 2025. Nem os protestos de ex-diretores do BC, como Sérgio Werlang, de que a decisão de reduzir a meta brasileira foi equivocada diante de um quadro de fragilidade fiscal, são suficientes para convencer o Banco Central.
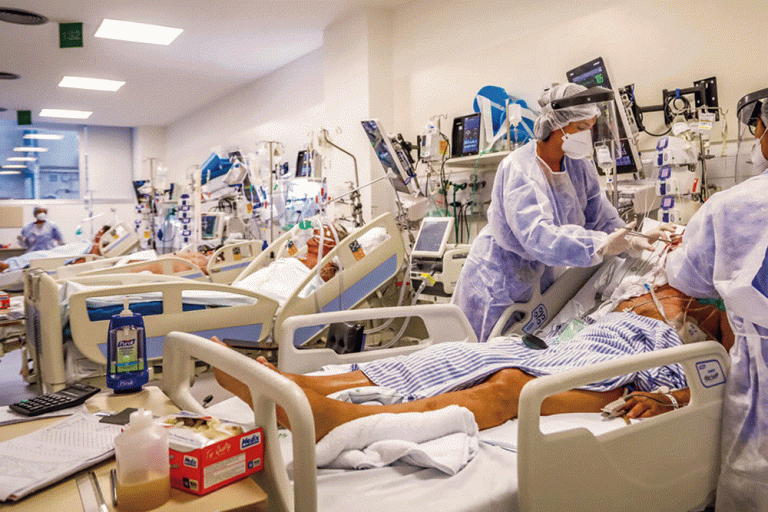 Cravo e ferradura. O fim dos gastos emergenciais com a pandemia alivia o caixa. O BC irá insistir na alta da taxa básica de juros? – Imagem: Beto Nociti/BCB e Sílvio Avila/HCPA
Cravo e ferradura. O fim dos gastos emergenciais com a pandemia alivia o caixa. O BC irá insistir na alta da taxa básica de juros? – Imagem: Beto Nociti/BCB e Sílvio Avila/HCPA
Vários economistas criticam o divórcio entre políticas do BC e a realidade. “Nunca é demais lembrar que uma parcela relevante da melhora do resultado primário observada nos últimos dois anos se deveu ao fato de que a economia se aproximou do pleno emprego em 2022, depois de quase sete anos a operar muito aquém disso”, sublinham os economistas Bráulio Borges e Ricardo Barboza em artigo do FGV/Ibre, que propõe o retorno da meta de inflação para perto de 4% em 2024.
Em relação à definição do horizonte da meta, isto é, o período em que o BC deve alcançá-la, a maioria dos países utiliza um prazo médio, de dois anos ou mais, ou um período móvel, que permite diferenças de curto prazo entre a meta e os choques que afetam a economia, pois choques não previsíveis têm efeitos defasados. O Brasil é, contudo, um dos poucos países que utilizam a meta anual, segundo o ano-calendário, como horizonte, destaca o economista Luiz Fernando de Paula, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Além da expectativa em torno do arcabouço fiscal novo, o que o mercado leva em conta é a relação dívida-PIB, portanto é melhor começar com uma taxa mais baixa, do que mais alta. “Isso é benigno. A relação está mais baixa do que um ano atrás”, sublinha Gonçalves, e há, portanto, “muito espaço para piorar.” Os números mostram alta modesta, de 3,7%, na Dívida Bruta do Governo Geral, e uma queda na sua relação com o PIB, de 80,3% em dezembro de 2021 para 73,5% em dezembro do ano passado. É preciso considerar, no entanto, que a alta dos juros pagos e a perspectiva de manutenção da Selic “por muito tempo” em 13,75% aumentarão o peso do déficit nominal.
Em contraposição ao fator benigno apontado acima, há fortes indicações de que o nível de atividade e a arrecadação não vão avançar no ritmo do ano passado. O crescimento do PIB deverá diminuir de 3% para 1%, segundo a maior parte dos executivos financeiros, portanto toda a arrecadação que depende do crescimento da economia vai sofrer. Não haverá a alta da arrecadação de 2022, ressalta Gonçalves.
A maior parte da arrecadação, em especial nos últimos dois anos, decorreu do preço das commodities, com efeito nos dividendos estratosféricos da Petrobras, no pagamento de direitos de exploração de recursos naturais, com destaque para extração mineral, principalmente ferro, petróleo, gás, e no pagamento por direitos de concessões de uso de ativos públicos, isto é, setor elétrico e leilões. Essa arrecadação tem a ver, portanto, com o preço do petróleo, a taxa de câmbio e o ambiente global. “Não consigo imaginar que teremos os preços das commodities no alto de novo”, diz o economista.
Receitas extraordinárias não irão se repetir. O mercado de trabalho mostra desaquecimento
A tendência de valorização do real limita o crescimento das receitas, nesse setor, ao aumento do volume de produção. Uma possibilidade é a Petrobras ampliar a produção de gás, mas o resultado ficará distante daquele dos últimos dois anos. O mercado de trabalho, apesar dos dados positivos recentes, está menos aquecido e, portanto, toda arrecadação pública relacionada a esse setor, com destaque para a contribuição previdenciária, não vai crescer. Enquanto do lado da arrecadação não se repetirá a situação de 2022, no item despesa, congelou-se a remuneração dos funcionários públicos. “Após seis anos de congelamento de salário de servidor, vai ter reajuste. A folha cresceu 2% a 3%, frente a uma inflação de 6% e isso não vai ficar assim”. Ainda neste quesito, o destaque é o fim da pandemia, que possibilitou uma economia de 60 bilhões de reais em desembolsos relacionados às ondas da Covid-19. “É um dinheiro que deixou de ser gasto porque não tem mais pandemia, pelo menos daquele jeito. Então não se economizou.”
A fragilidade, destaca Gonçalves, é que se obteve um resultado de superávit do governo central e do conjunto do setor público, neste caso com o ICMS dos estados, que se encheram de dinheiro de arrecadação nos oito primeiros meses do ano, mas, com a desoneração, não voltarão a ter esse desempenho da arrecadação. É uma trajetória muito complicada. “Esse resultado do ano passado não quer dizer nada. Ele não é um sinal. Ah, agora virou superávit. Não é isso, é algo absolutamente ligado a essa conjuntura do ano passado. Isso não existe mais”, dispara o economista.
Em visitas à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e à Federação Brasileira dos Bancos, o ministro Fernando Haddad declarou-se comprometido com uma reindustrialização em bases sustentáveis e com a ampliação do crédito. Ouviu do presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva, elogios à decisão do governo de buscar de imediato uma retomada do crédito à exportação à Argentina, principal destino de industrializados, com a possibilidade de que qualquer banco, público ou privado, possa financiar a exportação de produtos brasileiros. A inovação em comparação com sistemáticas anteriores é que, caso ocorra uma maxidesvalorização do peso ou um default, o Brasil exigirá da Argentina um colateral, isto é, uma garantia real negociável no mercado internacional a ser dada ao credor até que a dívida seja paga. •
PUBLICADO NA EDIÇÃO Nº 1245 DE CARTACAPITAL, EM 8 DE FEVEREIRO DE 2023.
Este texto aparece na edição impressa de CartaCapital sob o título “Fôlego curto “
Apoie o jornalismo que chama as coisas pelo nome
Depois de anos bicudos, voltamos a um Brasil minimamente normal. Este novo normal, contudo, segue repleto de incertezas. A ameaça bolsonarista persiste e os apetites do mercado e do Congresso continuam a pressionar o governo. Lá fora, o avanço global da extrema-direita e a brutalidade em Gaza e na Ucrânia arriscam implodir os frágeis alicerces da governança mundial.
CartaCapital não tem o apoio de bancos e fundações. Sobrevive, unicamente, da venda de anúncios e projetos e das contribuições de seus leitores. E seu apoio, leitor, é cada vez mais fundamental.
Não deixe a Carta parar. Se você valoriza o bom jornalismo, nos ajude a seguir lutando. Assine a edição semanal da revista ou contribua com o quanto puder.





