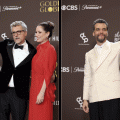Cultura
O dia em que me descobri marrom
O escritor Mohsin Hamid, nascido no Paquistão, faz um romance sobre a ameaça contida no impulso avassalador da identidade de grupo
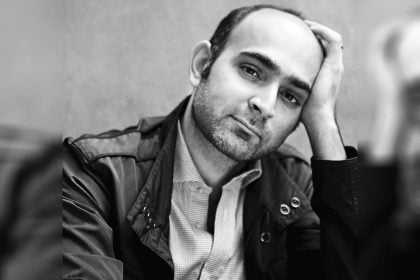
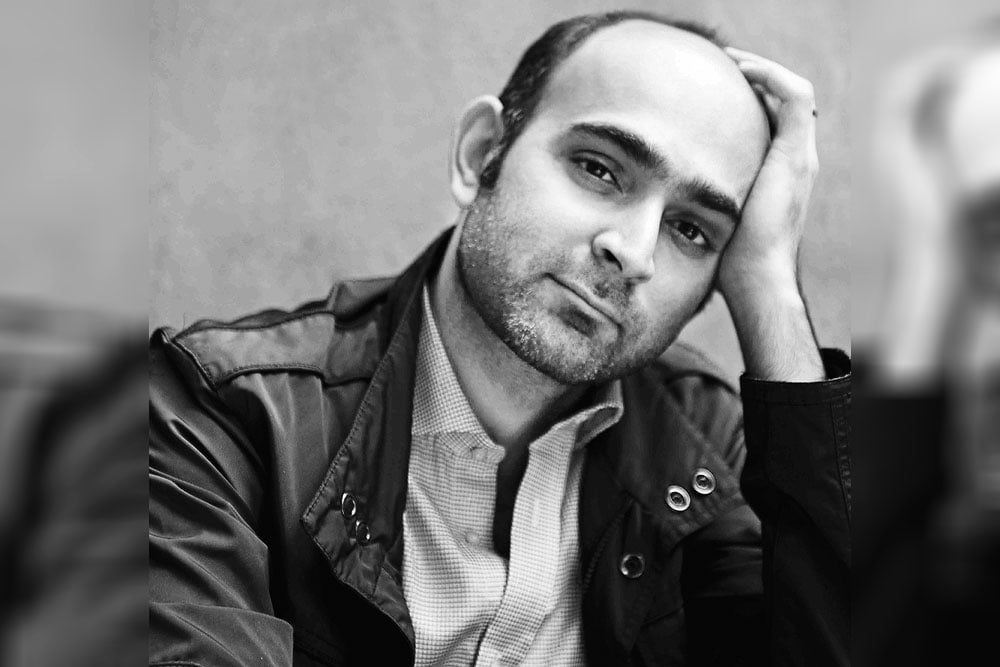
O escritor Mohsin Hamid, que completa 52 anos em julho, divide seu tempo entre Lahore (Paquistão), onde nasceu, Nova York e Londres. Ele trabalhou como consultor administrativo e como redator da agência de publicidade Wolff Olins.
Seu segundo romance, The Reluctant Fundamentalist (O Fundamentalista Relutante), narrado por um jihadista educado no Ocidente, vendeu 1 milhão de cópias. Tanto esse livro quanto seu quarto romance, Passagem para o Ocidente (Companhia das Letras), foram selecionados pelo Booker.
O último romance de Hamid, O Último Homem Branco (lançado no Brasil na semana passada), é sobre um americano branco que, ao acordar, certa manhã, descobre ter ficado inegavelmente “marrom”. Ao longo do livro, mais e mais pessoas brancas passarão por essa mesma transformação.
The Observer: Você já falou algumas vezes sobre o papel da urgência na escrita, dizendo: “Só escreva se precisar escrever”. Qual era a urgência em contar esta história em particular neste momento?
Mohsin Hamid: Eu me considero um ser humano completamente híbrido. Morei em três países durante grande parte da minha vida – Paquistão, Estados Unidos e Reino Unido. Alguém como eu tem dificuldade em pensar em sua identidade como sendo apenas uma coisa. Portanto, o impulso atual para a pureza, para identificar as “populações verdadeiras” de diferentes países ou religiões, de ser “britânico” ou “americano branco” ou “muçulmano” está fundamentalmente em desacordo com quem sou. Quis escrever um livro sobre esse mecanismo de “classificação”, a maneira como nos colocamos em grupos. Acho que o impulso para a identidade de grupo está se tornando avassalador – e ameaçador para todos.
TO: Você falou que o romance está enraizado em sua experiência do 11 de Setembro como paquistanês nos Estados Unidos. O que quis dizer com isso?
MH: Essa experiência de perda, que o personagem principal, Anders, tem no livro, foi algo que senti com muita força naquele momento. Frequentei universidades de elite, morei em cidades cosmopolitas e, embora eu não fosse branco, era, pode-se dizer, branco o suficiente. Mas depois do 11 de Setembro tudo mudou. Quando vi que as coisas não voltariam a ser como eram, fiquei pensando: o que é essa coisa, a América branca, da qual eu costumava ser membro probatório?
TO: Parece apropriado, já que o livro foi escrito durante a pandemia, que também haja um sentido “viral” na mudança que descreve.
MH: Sim. Trata-se, em parte, de aceitar uma nova realidade, uma ruptura. Mas isso vem devagar. Você, primeiro, ouve à distância e se pergunta se é real, se vai afetá-lo. No livro, Anders é, nesse sentido, uma espécie de Paciente Zero.
TO: Seus romances exploram temas muito sérios: pertencimento, imigração, raça. No entanto, você os aborda como uma espécie de brincadeira. Essa tensão entre os tons é importante?
MH: É fundamental. Se você examinar a cultura humana dos textos sumérios em diante, as pessoas tentaram usar histórias para se divertir e também para lidar com os medos que estavam enfrentando. O momento atual não é diferente. Estamos lidando com questões ambientais horríveis, a ascensão do militarismo e enormes desigualdades no que parecem ser sociedades cada vez menos tolerantes. Não quero fingir que isso não existe. Mas também estamos procurando a transcendência, que pode ser obtida por meio do amor ou da diversão.
 O Último Homem Branco. Mohsin Hamid. Tradução: José Geraldo Couto. Companhia das Letras (136 págs., 69,90 reais)
O Último Homem Branco. Mohsin Hamid. Tradução: José Geraldo Couto. Companhia das Letras (136 págs., 69,90 reais)
TO: Essa falta de vontade de escrever uma distopia completa é uma necessidade psicológica para você?
MH: Acho que é parte do meu caráter. No nível pessoal, estou tentando lutar contra a sensação de desolação sobre o mundo. O perigo, para nós e para nossos filhos, é cairmos em um pessimismo que convida a uma forma profundamente nostálgica de política: vamos levar a Grã-Bretanha, os Estados Unidos ou o Islã de volta ao que foi. À falta de conseguirmos pensar num futuro melhor, fetichizamos um passado imaginário. Acho isso incrivelmente perigoso.
TO: Sua escrita provou ser severamente profética. Em 2015, você escreveu que não demoraria para que “endurecer as fronteiras e assistir refugiados se afogarem no mar” deixasse de ser suficiente para os países europeus. Você disse então que, para que os governos justifiquem o bode expiatório político dos migrantes, “aqueles que parecem refugiados (precisariam) ser aterrorizados … presos, expulsos”.
MH: Eu tenho uma espécie de hipersensibilidade a esse tipo de política. Sou profundamente alérgico a esses conflitos entre culturas. Sei que quando o pólen político ficar alto, vou espirrar. O fato é que hoje vivemos em uma economia que monetiza a atenção e que estamos sendo submetidos, pelas redes sociais, a uma leitura do mundo que induz à ansiedade e à política disso decorrente. Essa ideia assustadora do mundo está vencendo porque funciona em nosso design biológico e em nosso atual design de economia digital.
TO: Então, um antídoto para isso, para você, é criar o espaço para imaginar outros futuros possíveis?
MH: Sim. O que me interessa na ficção, e particularmente no romance, é que ela envolve a quebra de fronteiras. Quando você lê um romance, você passa a conter, dento de você, a consciência de outra pessoa. Essa possibilidade, por sua própria natureza, obscurece a distinção entre as pessoas. Para mim, é muito poderoso criar histórias que não descartem o medo do outro, que valorizem a magnitude desse medo, mas que, ao fim, encontrem uma saída.
Tradução de Luiz Roberto M. Gonçalves.
Publicado na edição n° 1264 de CartaCapital, em 21 de junho de 2023.
Este texto aparece na edição impressa de CartaCapital sob o título ‘O dia em que me descobri marrom’
Apoie o jornalismo que chama as coisas pelo nome
Depois de anos bicudos, voltamos a um Brasil minimamente normal. Este novo normal, contudo, segue repleto de incertezas. A ameaça bolsonarista persiste e os apetites do mercado e do Congresso continuam a pressionar o governo. Lá fora, o avanço global da extrema-direita e a brutalidade em Gaza e na Ucrânia arriscam implodir os frágeis alicerces da governança mundial.
CartaCapital não tem o apoio de bancos e fundações. Sobrevive, unicamente, da venda de anúncios e projetos e das contribuições de seus leitores. E seu apoio, leitor, é cada vez mais fundamental.
Não deixe a Carta parar. Se você valoriza o bom jornalismo, nos ajude a seguir lutando. Assine a edição semanal da revista ou contribua com o quanto puder.