Cultura
Na pele dos outros
Ao falar sobre O Quarto ao Lado, Julianne Moore reflete sobre a vida, a morte e o consolo proporcionado pela arte


Outro dia, Julianne Moore estava no metrô, em Nova York, escutando discretamente a conversa de duas mulheres. “Eu ouvi uma delas dizer: ‘Bem, sei que é exatamente isso que você faria, sei que é assim que você é’. E a outra disse: ‘É verdade. Simplesmente, não gosto de confrontos, não gosto!’”
Talvez seja estranha a ideia de que Julianne, uma atriz que não só ganhou o Oscar, mas cuja beleza etérea e os longos cabelos ruivos a tornam uma das pessoas mais reconhecíveis do mundo, passe despercebida num vagão de metrô. Mas, por favor, lembre-se: parte de seu talento é a capacidade de se transformar, de se afastar de si.
Ela é uma atriz de 63 anos no corpo de uma estrela de cinema, que prossegue em seu relato: “Foi tão incrível, porque eram duas amigas, e uma estava dizendo: ‘Eu conheço você, eu vejo você’. E a outra afirmava que ela viu a coisa certa. Eu pensei: ninguém vai fazer um filme sobre essas duas, mas elas são como a maioria de nós, certo?”
Em 40 anos de uma carreira que inclui filmes autorais como o maravilhoso Mal do Século (1995), sucessos de bilheteria como a franquia Jogos Vorazes, dramas premiados como Para Sempre Alice (2014), que lhe rendeu o Oscar de melhor atriz, e trabalhos para a tevê, como a recente minissérie Mary & George, Moore interpretou personagens desafiadoras e combativas, ocasionalmente bizarras e muitas vezes deslumbrantes.
Quando criança, ela se mudou 20 vezes, primeiro pelos Estados Unidos e depois para a Alemanha, com o irmão e a mãe, uma assistente social psiquiátrica, seguindo a carreira militar do pai. Sempre que entrava em uma nova escola, observava detalhadamente o comportamento dos alunos para aprender a se encaixar, habilidade que transferiu para a atuação – primeiro em uma telenovela, em 1984, depois no cinema.
Almodóvar vê beleza em pilhas de frutas, livros, blazers e até no batom que as pessoas usam. E parece um banquete, sabe? Uma celebração da vida
No metrô, assim como em papéis no cinema, ela se interessa mais por “realidade e complexidade” do que por fantasia. “Nunca conheci alguém pessoalmente que tenha ido à Lua; nunca conheci uma rainha”, explica. “No entanto, há muitos filmes sobre rainhas. Embora eu tenha conhecido pessoas que fizeram coisas incríveis, a maior parte da minha experiência e dos meus relacionamentos é com pessoas que levam vidas normais. Ninguém é mágico, ninguém é bruxo, ninguém está no espaço sideral. A vida das pessoas reais é rica, extraordinária e maravilhosa, e eu gosto de vê-las – e de examiná-las.”
Nosso encontro é para falar sobre O Quarto ao Lado, o novo e elogiado filme do diretor espanhol Pedro Almodóvar, em cartaz nos cinemas brasileiros desde a quinta-feira 24. Trata-se de uma exploração exuberante e adorável da mortalidade e, como é de Almodóvar, tem uma direção de arte que trabalha a morte de uma personagem até a cor do seu último batom. “Há um senso visual elevado”, diz a atriz, sobre os filmes do cineasta. “As mulheres parecem lindas, o mundo parece lindo.” Até a morte parece linda.
“Há cineastas que dizem: este mundo é duro, então o filme vai parecer duro. Ninguém vai ser iluminado. Vai parecer real”, prossegue Julianne. “E eu penso: a vida é assim? A vida parece dura? Isto é a realidade? Pedro Almodóvar vê beleza em pilhas de frutas, livros, blazers e até no batom que as pessoas usam. E parece um banquete, sabe? Uma celebração da vida.”
No longa-metragem, Julianne Moore interpreta Ingrid, que reencontra uma velha amiga, Martha, vivida por Tilda Swinton, em um quarto de hospital. O quarto tem vista para uma paisagem urbana de Manhattan, na qual cai neve cor-de-rosa. Ela decide alugar uma casa em algum lugar bonito para tomar uma pílula de eutanásia e pede para Ingrid estar lá, no quarto ao lado. É um filme terno e estranho: um dueto sobre a amizade, o tempo e o fim.
Em resposta a um antigo namorado, um palestrante sobre a crise climática, Ingrid diz: “Você não pode sair por aí dizendo às pessoas que não há esperança. Há muitas maneiras de viver dentro de uma tragédia”.
 Cotidiano. Quando fez As Horas (2002), Julianne tinha de levar o filho, então com 3 anos, consigo para o set – Imagem: Miramax
Cotidiano. Quando fez As Horas (2002), Julianne tinha de levar o filho, então com 3 anos, consigo para o set – Imagem: Miramax
Na estreia, no Festival de Veneza, o filme foi aplaudido durante 17 minutos. “Essa sensação de reciprocidade foi maravilhosa”, diz Almodóvar. “Senti que o público tinha entendido o que quisemos dizer.” Mas “a ovação foi tão longa que, depois de trocar abraços e beijos com Julianne, Tilda e meu irmão, não sabíamos mais o que fazer, exceto sorrir e colocar as mãos sobre os nossos corações”.
Almodóvar quis Julianne no papel porque sabia que ela podia parecer “aterrorizada, amigável, compassiva, brava, compreensiva, pétrea, ligeiramente excêntrica, terna e empática, mas sem ir longe demais”, diz ele. Após enviar o roteiro a Tilda, o cineasta perguntou quem ela achava que deveria interpretar Ingrid. “Julie”, respondeu ela.
As duas atrizes circulam nas órbitas uma da outra há anos, mas a união trazida por esse filme foi, nas palavras de Tilda, em entrevista dada por e-mail, “uma bênção especial”: “Nos deu a chance de nos atualizarmos sobre a vida inteira da outra, de manhã à noite. Entre as cenas, Pedro sempre se maravilhava: ‘Vocês duas estão sempre falando, falando, falando!’ Que delícia sermos amigas desse jeito”.
Tentamos conter a vida, mas ela se espalha horizontalmente e não sabemos para onde está indo
Depois da estreia, conta Julianne, as pessoas a abordaram para discutir, primeiro, o filme e, depois, elas mesmas. “O trabalho de Almodóvar”, ela suspira, “faz as pessoas quererem se revelar porque elas se sentem muito vistas pela experiência. O que ele fez nesse filme resume o que significa ser testemunha de alguém.”
Às vezes, o processo era doloroso, admite. Ela estava filmando em Madri, longe do marido – o diretor de cinema Bart Freundlich, que conheceu durante O Mito das Digitais, em 1996 – e de seus dois filhos adultos. Além disso, o assunto era pesado.
Esta entrevista aconteceu de manhã, cedo demais para se falar sobre morte, mas o filme de Almodóvar exige isso: “Seus filmes são como um sonho. Eles não são bem reais, mas seus temas são muito reais. É tudo sobre a vida”.
Na vida, a atriz tenta fazer o que é possível na sua própria esfera, e chegar o mais longe que puder. Julianne ama o livro Como Ser Bom, de Nick Hornby, porque, “no final, a única conclusão a que ele chega é: é impossível.
“As pessoas amam narrativas, com começo, meio e fim, mas não temos isso na vida até morrermos. Nunca saberemos qual é a história, porque não estaremos lá para ver o fim. Tentamos conter a vida, mas ela se espalha horizontalmente e não sabemos para onde está indo”, diz. “Então, encontramos consolo na arte, no tempo e nos relacionamentos.”
Vários diretores com quem Julianne Moore trabalhou falam sobre sua maneira mágica de fazer silêncio: as coisas que ela diz quando não está dizendo nada. “Acho que ficar em silêncio é, em parte, deixar algo acontecer com você enquanto está diante da câmera”, reflete. “Na atuação, você quer tentar ficar sem pele. Atuar é, no fundo, buscar derrubar barreiras. Na vida, é muito difícil ser assim, porque você quer se proteger.”
Onde mais ela encontra liberdade? “Em relacionamentos. Nas amizades. Também encontro muita liberdade só andando por aí. Gosto de ler, adoro design e adoro cerâmica”, diz, acrescentando adorar fazer cerâmicas também porque elas são uma “evidência do tempo”.
Quando seus filhos eram pequenos, 20 anos atrás, eles a visitavam no set para almoçar. “Quando se torna mãe, uma pessoa passa por uma tremenda compartimentação. Mas eu gostava do fato de ter outras responsabilidades, outras coisas para cuidar.” Seu filho tinha 3 anos quando ela filmou As Horas, e ele esteve com ela o tempo todo. “Uma das minhas maiores preocupações era chegar em casa, porque ele não dormia enquanto eu não me deitasse na cama com ele. Minha personagem estava muito deprimida e, ah!, era tudo muito complicado”, relembra.
Ela tinha 37 anos quando teve o primeiro filho, e não nega se incomodar com o fato de, em toda e qualquer entrevista, ser questionada sobre a idade – isso, desde que tinha 28 anos. “Ninguém quer ser definido pela idade que tem. Na verdade, todo mundo está apenas tendo as experiências de… estar vivo”, reflete, respirando suavemente, exasperada. “A questão mais profunda é a mortalidade. Mas, se você tem autonomia e controle sobre suas ações, não importa em que ponto da vida está: você quer ser capaz de experimentar tudo.”
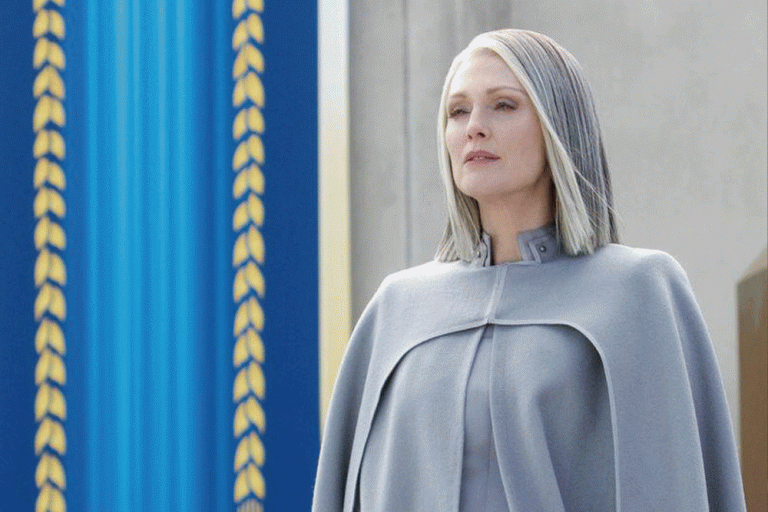 Carreira. Embora seja muito presente no cinema autoral, a atriz fez sucessos de bilheteria, como Jogos Vorazes e trabalhos para a tevê, como a minissérie Mary & George – Imagem: Sky e Paris Filmes
Carreira. Embora seja muito presente no cinema autoral, a atriz fez sucessos de bilheteria, como Jogos Vorazes e trabalhos para a tevê, como a minissérie Mary & George – Imagem: Sky e Paris Filmes
Nós divagamos e voltamos às mulheres no metrô: “Todos queremos isso, não é? A questão sobre a identidade, no entanto, é que ela está sempre mudando”. Acontece de, às vezes, ela descobrir mais sobre quem é através dos personagens? “Sim, é por isso que eu faço isso! Quando as pessoas falam sobre se sentirem isoladas de si mesmas, penso o quão doloroso isso pode ser. E acho que, para muitos de nós, atuar é experimentar um lugar onde meio que podemos brincar com os nossos sentimentos.”
Ela teve essa sensação nas cenas partilhadas com Tilda Swinton como Martha, no hospital: um reconhecimento e uma compreensão de que, embora você não seja capaz de salvar alguém, pode ajudar só por estar ali. Ela repete a fala, com peso: “Há muitas maneiras de viver dentro de uma tragédia”, seja em um quarto de hospital, seja em uma guerra ou em um planeta destruído.
“A vida é difícil, a morte é difícil, a tristeza é difícil. Todas essas coisas com as quais convivemos são difíceis, e você não pode dizer: ‘Ah, esqueça. Eu desisto’. Você tem de estar presente naquilo.” Ela balança a cabeça. “Mas assim é a vida: temos filhos, vamos ao cinema e conversamos, como agora. Nós persistimos!”
Estamos nos olhando fixamente e paira, sobre a mesa, uma espécie de terror mútuo. Me pego pedindo desculpas por fazer perguntas sobre os horrores de estar viva numa manhã tão bonita. Ela ri alegremente enquanto puxa o elástico de seu rabo de cavalo: “Me desculpe você”.
Mas, como ela me lembra, há sempre mais de uma coisa acontecendo ao mesmo tempo: a tragédia e a brutalidade, assim como a beleza e a realidade cotidiana do trabalho. “Porque, durante todo esse tempo…”, emenda, ao falar sobre a maneira de viver quando a morte é real, por exemplo, “eu também fiz um condicionamento profundo no meu cabelo.” E sorri. •
Tradução: Luiz Roberto M. Gonçalves.
Publicado na edição n° 1335 de CartaCapital, em 06 de novembro de 2024.
Este texto aparece na edição impressa de CartaCapital sob o título ‘Na pele dos outros’
Apoie o jornalismo que chama as coisas pelo nome
Depois de anos bicudos, voltamos a um Brasil minimamente normal. Este novo normal, contudo, segue repleto de incertezas. A ameaça bolsonarista persiste e os apetites do mercado e do Congresso continuam a pressionar o governo. Lá fora, o avanço global da extrema-direita e a brutalidade em Gaza e na Ucrânia arriscam implodir os frágeis alicerces da governança mundial.
CartaCapital não tem o apoio de bancos e fundações. Sobrevive, unicamente, da venda de anúncios e projetos e das contribuições de seus leitores. E seu apoio, leitor, é cada vez mais fundamental.
Não deixe a Carta parar. Se você valoriza o bom jornalismo, nos ajude a seguir lutando. Assine a edição semanal da revista ou contribua com o quanto puder.




