Cultura
Falar pelos outros
Para Ana Maria Gonçalves, autora do seminal Um Defeito de Cor, a ideia de representatividade virou uma armadilha

Quando Um Defeito de Cor foi lançado pela Editora Record, em 2006, a Lei de Cotas (2012) não existia e as obras de artistas negros ainda figuravam, na museografia brasileira, em um espaço reservado – o Museu Afro, por exemplo, criado por Emanoel Araujo, havia sido aberto dois anos antes.
As quase mil páginas escritas por Ana Maria Gonçalves causaram então um impacto discreto, porém profundo. Elogiado por Millôr Fernandes em O Globo e por Marcelo Leite na Folha de S.Paulo, o livro foi sendo vagarosamente descoberto pelo establishment cultural e vorazmente agarrado por jovens leitoras negras.
Narrado por Kehinde, menina nascida no Reino do Daomé, atual Benin, em 1810, e capturada ainda criança para ser trazida para a Bahia, como escrava, o caudaloso romance é considerado um marco da literatura brasileira. E não deixa de ser significativo que, neste momento de ataque às políticas afirmativas, retorne de forma dupla: por meio da exposição Um Defeito de Cor, aberta na segunda-feira 10 no Museu de Arte do Rio (MAR) e do lançamento de uma belíssima nova edição, ilustrada com obras de Rosana Paulino.
A exposição, que reúne 400 obras, refaz o longo percurso histórico do livro a partir, sobretudo, de artistas negros brasileiros e africanos. Não se trata de uma ilustração da obra, mas de uma interpretação imagética das vivências e informações descritas. O “defeito de cor”, cabe lembrar, é o nome de um decreto do período colonial que previa que pessoas negras, para ingressar no clero ou no serviço militar, solicitassem a dispensa do “defeito de cor”.
Nascida em Ibiá, Minas Gerais, em 1970, e ex-moradora da Ilha de Itaparica, na Bahia, Ana Maria Gonçalves reside hoje em São Paulo, onde colhe e partilha os frutos de sua obra e de sua trajetória.
CartaCapital: O que aconteceu com você, com o livro, com o racismo e com as mulheres negras nesses 16 anos?
Ana Maria Gonçalves: Essa é uma longa viagem. Na minha vida, mudou tudo. Existe a Ana antes e a Ana depois do livro. O livro foi, para mim, uma grande busca pela identidade e a consolidação dessa identidade. Por ser uma negra de pele clara, sempre fui desestimulada a me dizer negra. Ouvi muitas vezes frases como “Não fala isso, você não precisa dizer isso”, em tom de conselho ou de elogio. A identidade negra, nos países marcados pelo racismo, está sempre em construção porque os parâmetros que a moldam estão em constante mutação. Ser uma mulher negra há 20 anos era uma coisa. Ser uma mulher negra hoje é outra. Caminhamos na direção de mudanças importantes, porque a sociedade precisa, sim, discutir o que significou e significa ela ser escravocrata. A abolição foi um ato inevitável, decorrente das lutas negras que existiram desde sempre, mas, como diz uma das obras presentes na exposição do MAR, a Princesa Isabel assinou a abolição, mas esqueceu de assinar as nossas carteiras de trabalho, que era o que poderia ter nos conferido cidadania. Vem dessa história a perseguição aos negros por vagabundagem. Esse tipo de discussão sempre existiu, mas, nos últimos 20 anos, foi saindo dos movimentos negros e sendo publicizada.
CC: Entre os brancos e também entre os negros?
AMG: Muitos negros tinham dificuldade para aceitar que a classe social ou uma melhor condição econômica não os livrava de sofrer racismo. O preto, sobretudo o mais claro, que ascendia, achava ser possível se livrar do racismo, quando, na verdade, ele só se livrava de um classismo. Isso está na base dos principais clubes negros do Brasil. O Renascença, no Rio, ou o Aristocratas, em São Paulo, foram fundados por negros das classes média e alta que não eram aceitos nos clubes da elite branca. O negro que tinha dinheiro descobria que não podia se filiar ao Pinheiros e à Hebraica, os clubes da elite branca.
CC: Hoje não é proibido, mas me pergunto quantos negros são sócios do Pinheiros, do Paulistano e da Hebraica.
AMG: Não tenho ideia, mas você não se lembra do repórter de tevê perguntando para um negro se ele estava indo catar bolinhas no Pinheiros?
CC: Era um atleta da equipe de polo aquático, que estava no metrô com a camisa do clube. O repórter da TV Globo disse jogar tênis lá e perguntou se ele catava bolinhas.
AMG: Antes, casos como esse passavam batido. Mas acho que, sobretudo a partir da discussão das cotas, começaram a chegar à grande mídia. O sucesso do livro acompanha o interesse pela discussão sobre o racismo e tudo que a cerca. O livro conta a história da escravidão a partir de um ponto de vista que a sociedade não estava acostumada a ouvir. A gente ouviu a história da escravidão, primeiro, a partir do ponto de vista dos senhores de engenho e das autoridades e, depois, a partir do ponto de vista dos sociólogos brancos da USP. Eu quis contar a história do ponto de vista da mulher negra escravizada. É o que Angela Davis fala: quando uma mulher negra se movimenta, a sociedade inteira se movimenta junto, porque a gente está na base da pirâmide. Se a base da pirâmide se movimenta, o que está acima dela não permanece igual. Talvez seja essa a mudança: as vozes das mulheres negras estão chegando a lugares onde nunca haviam chegado.
O livro é tema de uma exposição no MAR e ganhou uma nova edição comemorativa
CC: As vozes e os corpos, né? A Conceição Evaristo, ao tomar posse da Cátedra Olavo Setubal de Arte e Cultura, na USP, falou que a chegada dela era a chegada do corpo de mulher negra de 75 anos àquele espaço.
AMG: De um corpo que é um ato político. Nossa presença em lugares onde antes não éramos vistas ou onde não éramos admitidas ou desejadas – em muitos lugares continuamos não sendo desejadas, mas estamos lá – é política. O racismo, o rancor e a má vontade em determinados lugares não são mais problema nosso. Cada um que lide com seus preconceitos.
CC: A leitura e as interpretações em torno do livro foram mudando nesses 16 anos?
AMG: Acho que sim. Tentei – e algumas pessoas me dizem que consegui – fazer um livro com diversas camadas. Você consegue se aprofundar na leitura a partir de determinadas vivências ou conhecimentos. E, na época do lançamento, eu tinha um leitor que alcançava menos dentro do livro. Hoje, tenho um leitor bombardeado por outras fontes, outras vozes e outras experiências que o qualificam melhor não só para ler Um Defeito de Cor, mas para ler Conceição Evaristo ou Djamila Ribeiro. Somos uma rede, e somos distintas em nossos modos de ser e de atuar e em nossos interesses. Durante muito tempo, quando entrávamos em uma discussão com dados, éramos rebatidas com achismo. A gente mostrava: “É isso”. E ouvia: “Ah, eu não acho”. Hoje, não debato com achismos.
CC: Hoje, é importante, em debates no setor cultural, por exemplo, ter uma mulher negra à mesa. O que significa, para você, a palavra representatividade?
AMG: A representatividade é, muitas vezes, usada para ter um falando por muitos, sendo que esses muitos nem sempre falam ou querem falar a mesma coisa. Costumo dizer que sou duas “ticadas”: tico como mulher e tico como negra. Já livramos dois cancelamentos só me convidando (risos). Mas não me interessa mais ocupar esse lugar sozinha. Não quero ser a única escritora preta em um debate. Essa excentricidade não me interessa mais, porque isso é um jeito de contemplar uma certa opinião pública sem contemplar todo mundo. Conheço mais de 20 ou 30 escritoras negras que poderiam estar do meu lado para eu não ter de falar sozinha. É uma armadilha e, se não presta atenção, você cai, porque esses convites soam lisonjeiros. Quando um branco me pergunta o que pode fazer para contribuir para a luta antirracista, a primeira coisa que digo é: você não pode abrir mão do seu privilégio, assim como eu não posso decretar que a partir de amanhã não vou mais ser seguida em um supermercado. Ou muda a sociedade ou você, sozinho, não interfere no mundo. Então, a segunda coisa que digo é: use o seu privilégio para levar, com você, pessoas que nunca viu nos lugares que você ocupa.
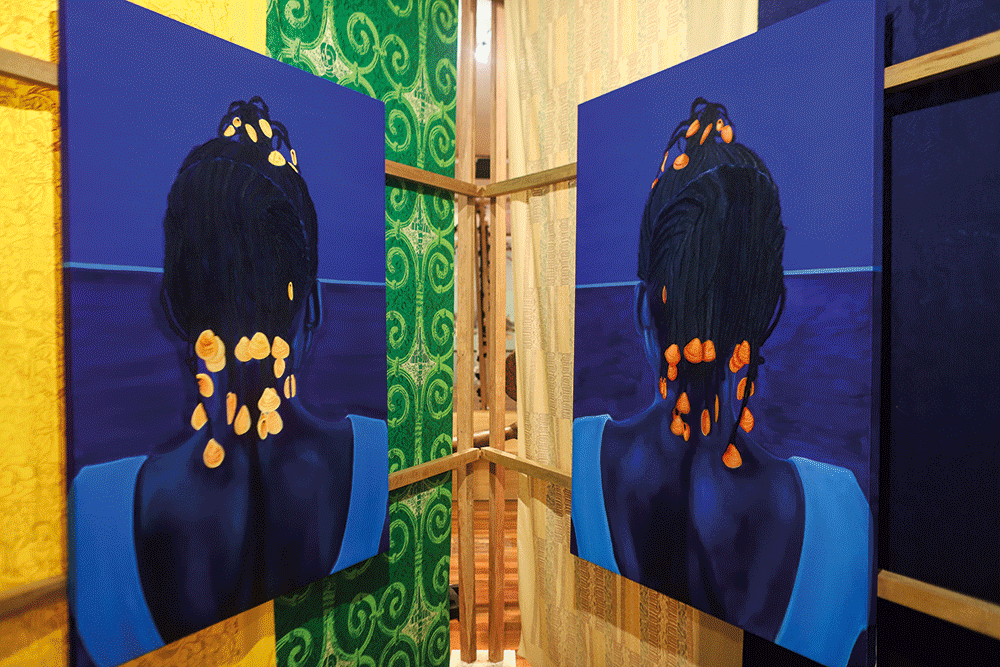 Imaginário O romance é agora ilustrado por obras de Rosana Paulino (à esq.). Emi Fé É, de Kika Carvalho, é uma das peças exibidas na mostra Um Defeito de Cor – Imagem: Beatriz Gimenes e Cláudia Melo
Imaginário O romance é agora ilustrado por obras de Rosana Paulino (à esq.). Emi Fé É, de Kika Carvalho, é uma das peças exibidas na mostra Um Defeito de Cor – Imagem: Beatriz Gimenes e Cláudia Melo
CC: A exposição no MAR ou a visibilidade dada hoje a artistas negros no Masp têm a ver com isso?
AMG: Uma mudança com a qual desejo contribuir diz respeito à ideia de que a história dos negros é só para os negros verem. Vamos falar dos negros, é claro, mas naquele cantinho. Isso não acontece apenas nas artes visuais. Vamos pensar em duas escritoras contemporâneas: Carolina Maria de Jesus e Clarice Lispector. Clarice, branca, era vista como uma escritora universal, enquanto Carolina era vista como uma escritora favelada, ou seja, que não fazia uma literatura de caráter universal. Uma coisa que o Brasil nunca fez foi assumir os negros como cidadãos e como construtores deste país. Os negros eram inseridos na história dos brancos, mas as histórias dos índios e negros no Brasil precisam ser encampadas como as histórias de todos. A exposição Um Defeito de Cor tem uma grande maioria de artistas pretos, mas traz uma história que deve ser encarada como uma história do Brasil, e não uma história da negritude. As pessoas terão de prestar atenção a essa nova cosmogonia.
CC: Seu livro está consagrado. Me parece que ele teve uma repercussão imediata, mas que não foi um estrondo. Qual é a sua sensação? Ele se espalhou aos poucos?
AMG: Acho que ele teve imediatamente um reconhecimento, talvez até pela estranheza que causou. Era uma época em que as editoras não lançavam livros com mais de 350 páginas, e aí chega o meu, com quase mil (risos). Ele despertou uma curiosidade. O Millôr Fernandes falou do livro na coluna dele e, com isso, duas edições foram vendidas. Mas teve também uma recepção indescritível. Três meses depois do lançamento, tinha gente me escrevendo para dizer que só estava esperando esse livro para fechar a bibliografia do TCC, do mestrado, do doutorado. É como se muita gente esperasse o relato épico de uma mulher negra. Muitas jovens mulheres negras se apropriaram do livro, mas, ao levá-lo para os orientadores, ouviam que não poderiam usá-lo porque eles próprios não conheciam a bibliografia necessária. Teve gente que mudou de universidade por briga com orientador. Mas elas foram se unindo, eu também ajudei nesses contatos e, hoje, a gente fala de uma terceira geração. Essas meninas se formaram, prestaram concurso e são professoras e estão orientando. Estou aqui porque muitas abriram caminho para eu passar. E o mínimo que posso fazer é ser ponte para outras gerações. É o ubuntu: nossa força está no encontro.
CC: Como sociedade, avançamos na luta antirracista?
AMG: Ainda estamos longe do ideal, mas já melhorou muito. Em Marte Um, filme que me marcou muito, uma personagem, em certo momento, diz: “Estou viva”. Acho que, depois de quatro anos deste governo e da pandemia, temos de comemorar estarmos vivos. O livro é uma homenagem aos meus ancestrais que se sacrificaram para a gente estar aqui, mas também uma celebração de quem está aqui agora e tem a tarefa árdua de reconstruir este país. •
PUBLICADO NA EDIÇÃO Nº 1230 DE CARTACAPITAL, EM 19 DE OUTUBRO DE 2022.
Este texto aparece na edição impressa de CartaCapital sob o título “Falar pelos outros”
Leia essa matéria gratuitamente
Tenha acesso a conteúdos exclusivos, faça parte da newsletter gratuita de CartaCapital, salve suas matérias e artigos favoritos para ler quando quiser e leia esta matéria na integra. Cadastre-se!
Um minuto, por favor…
O bolsonarismo perdeu a batalha das urnas, mas não está morto.
Diante de um país tão dividido e arrasado, é preciso centrar esforços em uma reconstrução.
Seu apoio, leitor, será ainda mais fundamental.
Se você valoriza o bom jornalismo, ajude CartaCapital a seguir lutando por um novo Brasil.
Assine a edição semanal da revista;
Ou contribua, com o quanto puder.




