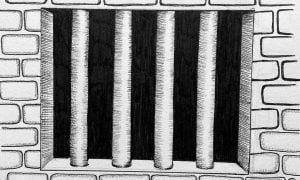Justiça
As portas da desgraça
Quem já entrou em um cárcere não esquece nunca mais o que viu
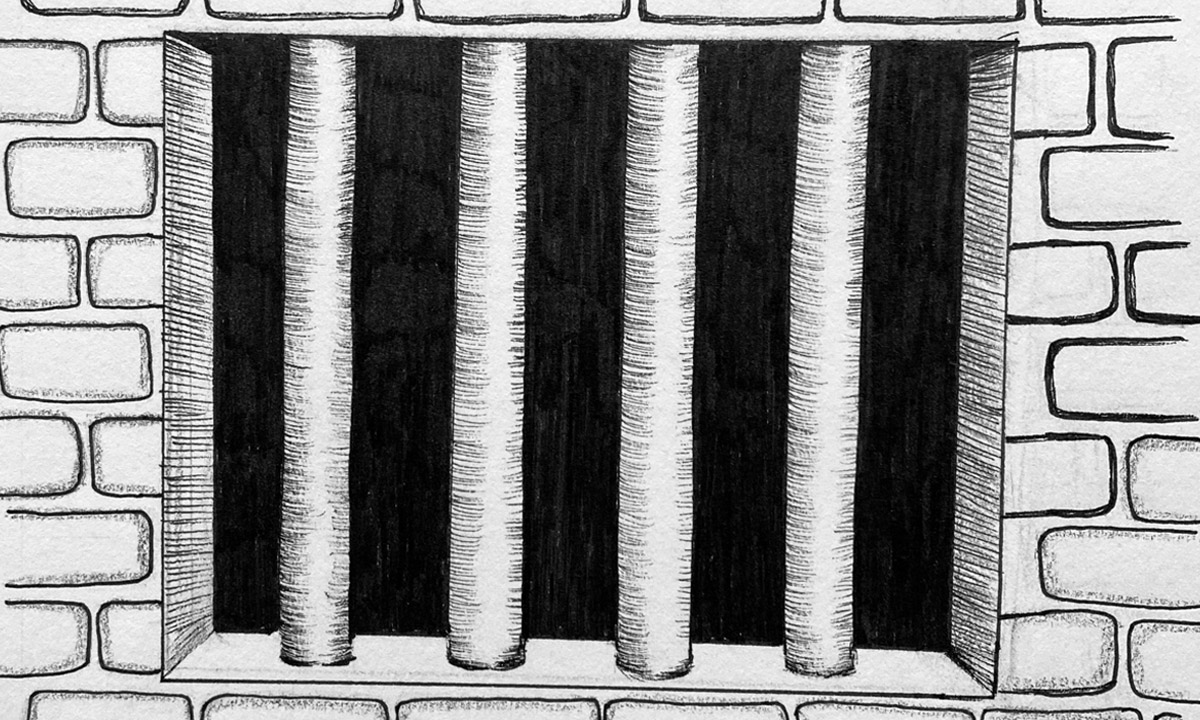
Em 1829, assombrado pela perversidade da pena de morte e do espetáculo da guilhotina, Victor Hugo expôs com precisão as fissuras de um sistema criminal seletivo e cruel. “O Último Dia de um Condenado” escancara as faces de uma sociedade apática ao sofrimento de um homem condenado a pagar pelo seu – ao que tudo indica, primeiro e último – crime com a mesma moeda: a pena capital.
No prefácio à terceira edição, Victor Hugo insere uma “comédia a propósito de uma tragédia” para dialogar com as objeções políticas e morais que seguiram as primeiras versões da obra. Em um jantar de ilustres, autoridades do sistema criminal concordam que o sofrimento causado pela leitura a respeito da dor do outro é, por si só, maior do que a própria dor sentida pelo outro nos seus últimos dias de vida. Espantam-se com a lucidez da narrativa literária e desconsideram a brutalidade da pena imposta. Mais que isso, não se conformam com a obrigação de olhar para dentro das prisões: “sabe-se muito bem que são cloacas. Mas o que importa à sociedade?”
O que levava multidões a lotarem as praças para assistir a execuções públicas?
Por que as “pessoas de bem” dos tempos atuais se sentem legitimadas e autorizadas a gritar aos quatro ventos que “bandido bom é bandido morto”? Como o cidadão de fé de hoje passa da reza ao linchamento sem titubear? Há um certo (grande) prazer no julgamento e na condenação moral do outro. O prazer de ver o outro comer o pão que o diabo amassou. O outro, claro, porque os nossos – ah, os nossos! Os nossos são pessoas de bem, foram injustamente acusados, não merecem nada daquilo, tudo não passa de uma grande conspiração ou um pequeno mal-entendido. Mas os outros, os condenados, os sujos, os fétidos, jogados às sarnas das masmorras, os outros são todos culpados!
O fetiche do poder punitivo e os pequenos poderes que orbitam o processo penal não são nenhuma novidade para quem luta pela garantia dos direitos mais básicos das pessoas privadas de liberdade. E isso foi retratado ao longo dos séculos: literatura e arte se entrelaçaram na história para desenhar, com maestria, a violência do sistema (de justiça?) criminal. Ilustraram, com transparência e curiosa coincidência – apesar dos séculos e dos mundos que as distanciam –, que, para o processo penal, o preso não passa de uma subespécie humana, desprovido de direitos, destituído de humanidade.

Um mero objeto do processo, sem identidade, sem história, sem protagonismo, o criminoso é ao mesmo tempo central e invisível no curso de seu julgamento.
Em “O Estrangeiro”, de Albert Camus, Mersault se dá conta de que, durante seu julgamento, muito se falou dele e de suas características (anti) sociais, até mais do que do crime por ele cometido. Incomodado com a falta de protagonismo na definição de seu próprio futuro, o estrangeiro constata que tudo se desenrolava sem a sua intervenção: “acertavam o meu destino, sem me pedir uma opinião”. Mersault foi condenado não tanto pelo seu delito. Foi condenado por sua recusa de fé em Deus, pela ausência de lágrimas no velório de sua mãe, por fugir do espectro de sociabilidade aceitável (e exigida) de seus julgadores.
Quem já entrou no cárcere não esquece o cheiro dos corpos semivivos empilhados em condições sub-humanas. Não são mais pessoas, não são sequer números. Submetidos a um sistema de justiça metálico, apático, cruel, construído pela humanidade, para a humanidade e contra a própria humanidade, os condenados – antes mesmo do devido processo legal! – são simultaneamente estigmatizados e ignorados. São imprescindíveis ao processo, mas são também dele desconexos, marginais.
E o que os ilustres dignitários de Victor Hugo, os julgadores de Mersault e o cidadão de bem têm em comum? Reunidos, no tempo e no espaço, para opinar sobre o atual estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro, levariam os braços aos céus e clamariam, todos juntos, em vocal gutural e possuídos pelo desprezo e pelo ódio: “E EU COM ISSO?”
Mersault não sabia o quanto estava certo quando, ao atirar no corpo já inerte do árabe, sentiu “como se desse quatro batidas secas na porta da desgraça”.
Em 1829, assombrado pela perversidade da pena de morte e do espetáculo da guilhotina, Victor Hugo expôs com precisão as fissuras de um sistema criminal seletivo e cruel. “O Último Dia de um Condenado” escancara as faces de uma sociedade apática ao sofrimento de um homem condenado a pagar pelo seu – ao que tudo indica, primeiro e último – crime com a mesma moeda: a pena capital.
No prefácio à terceira edição, Victor Hugo insere uma “comédia a propósito de uma tragédia” para dialogar com as objeções políticas e morais que seguiram as primeiras versões da obra. Em um jantar de ilustres, autoridades do sistema criminal concordam que o sofrimento causado pela leitura a respeito da dor do outro é, por si só, maior do que a própria dor sentida pelo outro nos seus últimos dias de vida. Espantam-se com a lucidez da narrativa literária e desconsideram a brutalidade da pena imposta. Mais que isso, não se conformam com a obrigação de olhar para dentro das prisões: “sabe-se muito bem que são cloacas. Mas o que importa à sociedade?”
O que levava multidões a lotarem as praças para assistir a execuções públicas?
Por que as “pessoas de bem” dos tempos atuais se sentem legitimadas e autorizadas a gritar aos quatro ventos que “bandido bom é bandido morto”? Como o cidadão de fé de hoje passa da reza ao linchamento sem titubear? Há um certo (grande) prazer no julgamento e na condenação moral do outro. O prazer de ver o outro comer o pão que o diabo amassou. O outro, claro, porque os nossos – ah, os nossos! Os nossos são pessoas de bem, foram injustamente acusados, não merecem nada daquilo, tudo não passa de uma grande conspiração ou um pequeno mal-entendido. Mas os outros, os condenados, os sujos, os fétidos, jogados às sarnas das masmorras, os outros são todos culpados!
O fetiche do poder punitivo e os pequenos poderes que orbitam o processo penal não são nenhuma novidade para quem luta pela garantia dos direitos mais básicos das pessoas privadas de liberdade. E isso foi retratado ao longo dos séculos: literatura e arte se entrelaçaram na história para desenhar, com maestria, a violência do sistema (de justiça?) criminal. Ilustraram, com transparência e curiosa coincidência – apesar dos séculos e dos mundos que as distanciam –, que, para o processo penal, o preso não passa de uma subespécie humana, desprovido de direitos, destituído de humanidade.

Um mero objeto do processo, sem identidade, sem história, sem protagonismo, o criminoso é ao mesmo tempo central e invisível no curso de seu julgamento.
Em “O Estrangeiro”, de Albert Camus, Mersault se dá conta de que, durante seu julgamento, muito se falou dele e de suas características (anti) sociais, até mais do que do crime por ele cometido. Incomodado com a falta de protagonismo na definição de seu próprio futuro, o estrangeiro constata que tudo se desenrolava sem a sua intervenção: “acertavam o meu destino, sem me pedir uma opinião”. Mersault foi condenado não tanto pelo seu delito. Foi condenado por sua recusa de fé em Deus, pela ausência de lágrimas no velório de sua mãe, por fugir do espectro de sociabilidade aceitável (e exigida) de seus julgadores.
Quem já entrou no cárcere não esquece o cheiro dos corpos semivivos empilhados em condições sub-humanas. Não são mais pessoas, não são sequer números. Submetidos a um sistema de justiça metálico, apático, cruel, construído pela humanidade, para a humanidade e contra a própria humanidade, os condenados – antes mesmo do devido processo legal! – são simultaneamente estigmatizados e ignorados. São imprescindíveis ao processo, mas são também dele desconexos, marginais.
E o que os ilustres dignitários de Victor Hugo, os julgadores de Mersault e o cidadão de bem têm em comum? Reunidos, no tempo e no espaço, para opinar sobre o atual estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro, levariam os braços aos céus e clamariam, todos juntos, em vocal gutural e possuídos pelo desprezo e pelo ódio: “E EU COM ISSO?”
Mersault não sabia o quanto estava certo quando, ao atirar no corpo já inerte do árabe, sentiu “como se desse quatro batidas secas na porta da desgraça”.
Apoie o jornalismo que chama as coisas pelo nome
Os Brasis divididos pelo bolsonarismo vivem, pensam e se informam em universos paralelos. A vitória de Lula nos dá, finalmente, perspectivas de retomada da vida em um país minimamente normal. Essa reconstrução, porém, será difícil e demorada. E seu apoio, leitor, é ainda mais fundamental.
Portanto, se você é daqueles brasileiros que ainda valorizam e acreditam no bom jornalismo, ajude CartaCapital a seguir lutando. Contribua com o quanto puder.