Cultura
Encruzilhada climática
Para Matthew Huber, a pauta climática se equilibra entre o limite político e sua apropriação pelo próprio capitalismo


Matthew T. Huber é professor de Geografia na Maxwell School of Citizenship and Public Affairs da Universidade de Syracuse, nos Estados Unidos. Reconhecido pelas análises sobre energia, capitalismo e ecologia política, Huber destaca-se também por conectar as questões ambientais às estruturas de classe e às dinâmicas do poder econômico.
Em Lifeblood: Oil, Freedom and the Forces of Capital (University of Minnesota Press, 2013) e de Climate Change as Class War: Building Socialism on a Warming Planet (Verso, 2022), o pesquisador apresenta uma leitura materialista da crise climática. O que ele propõe, basicamente, são soluções estruturais – planejamento público, reestatização de setores estratégicos e reconstrução de movimentos de classe – em contraponto a abordagens morais ou gerenciais.
Nesta entrevista, Huber falou sobre a ineficiência das conferências climáticas, as diferentes visões de governos progressistas sobre a extração de recursos naturais e o oportunismo das políticas da iniciativa privada para a pauta climática. O capitalismo, pontua ele, está sempre pronto a engendrar novas respostas para as crises que podem ameaçar seu funcionamento.
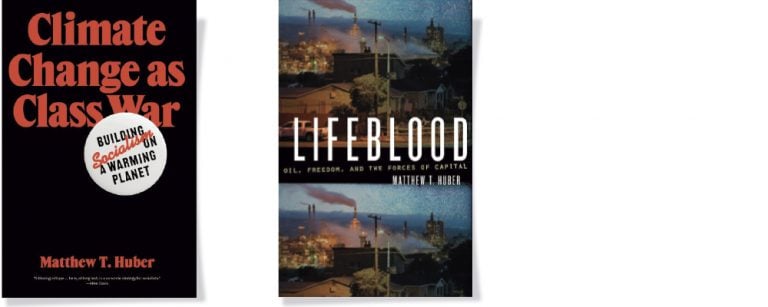 Análises. Seus livros conectam as questões ambientais às estruturas de classe e às dinâmicas do poder econômico
Análises. Seus livros conectam as questões ambientais às estruturas de classe e às dinâmicas do poder econômico
CartaCapital: No fim de 2025, o Brasil sediou, na Amazônia, a COP30, da ONU. Os principais patrocinadores do evento foram empresas de papel e celulose, petróleo e mineração. A mídia nos EUA não cobriu o evento. Como o senhor enxerga essas conferências hoje?
Matthew T. Huber: Vejo as conferências climáticas, sobretudo, como um grande teatro, com poucos resultados concretos. Desde a ECO92, no Rio, ficou claro qual seria o papel dos EUA nesse jogo. George H. W. Bush disse, então, algo como: “O modo de vida norte-americano não é negociável”. Houve um momento importante em 2009, em Copenhague. À época, os EUA tinham um presidente liberal supostamente comprometido com o clima, mas, na prática, Barack Obama atuou de forma obstrucionista: ajudou a dividir os países e sinalizou que dali não sairia nada com “dentes” políticos. Depois desse fracasso, Paris 2015 foi uma tentativa de salvar a própria imagem. O Acordo de Paris foi, sim, histórico pela adesão simbólica, mas é não vinculante (ou seja, não tem força de lei). Os EUA entram e saem desses acordos conforme mudam os governos. Volto então à ideia do socialismo e do marxismo: a cooperação internacional deveria ser construída de baixo para cima, entre trabalhadores e movimentos, não mediada por fóruns dominados por elites e empresas, as COPs.
CC: Na última conferência, tivemos protestos de povos indígenas, que foram de barco até Belém, cidade-sede do encontro. Ao mesmo tempo, o governo Lula aprovou a extração de petróleo na região do Rio Amazonas. A ministra do Meio Ambiente é muito ligada e sensível a lideranças e pensadores indígenas. Como o senhor enxerga esse conflito?
MH: Há uma corrente na esquerda, associada ao decrescimento, que tende a afirmar que, se uma comunidade local, especialmente indígena, protesta contra qualquer atividade econômica, temos de apoiá-la incondicionalmente. Acho a situação mais complexa: vivemos em sociedades que precisam de recursos. O que me parece fundamental é democratizar as decisões sobre extração e produção. As comunidades locais deveriam ter, sim, um peso maior no processo, mas a decisão não pode ser estritamente local por envolver necessidades coletivas mais amplas. De toda forma, num mundo justo, um projeto extrativo implicaria compensação séria e reassentamento digno.
“Ações de ESG e relatórios ‘verdes’ são, em grande medida, performáticos”
CC: Qual é a sua visão do “progressismo corporativo”, com as ações de ESG (ligadas a impacto ambiental e responsabilidade social e ética) e woke capital (empresas que adotam posturas políticas e causas identitárias em suas marcas)?
MH: Para mim, ESG já era. Foi abandonado rapidamente pelo próprio capital financeiro, o que revela quão superficiais eram esses compromissos. Bastou um movimento coordenado de legisladores estaduais contra o chamado woke capital para fundos como a BlackRock recuarem. Isso ocorreu antes de Trump. Mas, mesmo na sua versão mais “utópica”, o ESG sempre foi formulado como: “Vamos investir de forma responsável porque a mudança climática é um risco para o capital; precisamos internalizar esse risco para proteger a rentabilidade”.
CC: Empresas de mídia e de bens de consumo, que não poluem como o petróleo ou a química, começaram a publicar relatórios ESG. O senhor diria que esses relatórios são publicidade?
MH: Antes de ESG virar moda, já existia o discurso de “sustentabilidade corporativa”: relatórios sobre cadeias de suprimento “verdes”, compromissos ambientais etc. Isso é, em grande medida, performático e discursivo. A crítica mais antiga a essa ideia de “responsabilidade social corporativa” veio do economista Milton Friedman, que, nos anos 1970, lembrava: a única responsabilidade real de uma empresa é com seus acionistas, e seu dever é maximizar o lucro. Nós, à esquerda, costumamos – com razão – atacar Friedman como o grande arquiteto do neoliberalismo, mas, nesse ponto, ele foi honesto sobre o funcionamento do capitalismo. Para o capital, desde que o lucro aumente, quaisquer impactos sociais ou ambientais são secundários. Então, sim, relatórios ESG em setores que nem estão no núcleo emissor tendem a funcionar como peças discursivas e gestão de reputação.
 Em Belém. Os principais patrocinadores da COP30, em 2025, foram empresas de papel e celulose, petróleo e mineração – Imagem: Bruno Peres/Agência Brasil
Em Belém. Os principais patrocinadores da COP30, em 2025, foram empresas de papel e celulose, petróleo e mineração – Imagem: Bruno Peres/Agência Brasil
CC: No Brasil, o governo está entusiasmado com a construção de data centers. A ideia é usar o fato de o País ter perto de 12% da água doce do mundo para atrair data centers e se tornar um polo de infraestrutura para Inteligência Artificial. O senhor compactua com a ideia de que, se aumentarmos a capacidade computacional da IA, vamos chegar a uma “singularidade” que beneficiaria toda a sociedade?
MH: O futuro da IA é extremamente incerto. Há fundadores da IA dizendo que veem algo como 20% de chance de essa tecnologia levar à extinção da humanidade. Quando você combina um potencial destrutivo dessa magnitude com um sistema orientado pelo lucro, o quadro é preocupante. Se os retornos forem altos, o capital tende a ignorar os riscos sistêmicos. Sou um marxista old school, no sentido de acreditar que o capitalismo, ao desenvolver as forças produtivas, cria as condições materiais para a emancipação humana. Tecnologias de automação podem, em princípio, liberar as pessoas de tarefas penosas e abrir espaço para mais tempo livre e uma vida mais rica. O problema não é a tecnologia em si, mas quem a controla e com que propósito. Nos últimos 40 anos, a produtividade do trabalho não avançou em ritmo que permitisse concretizar as utopias de automação e tempo livre. Se a IA de fato conseguir elevar de forma real a produtividade, ela poderia reabrir essa possibilidade – mas isso só se traduz em emancipação se houver uma transformação política profunda, não apenas investimento estatal em data centers a serviço do grande capital.
“Vejo as conferências climáticas da ONU, sobretudo, como um grande teatro, com poucos resultados concretos”
CC: O documentário Factory to the Workers (2021) mostra um grupo de trabalhadores, proprietários de uma usina na República Tcheca, que enfrentam um dilema: demitir metade do pessoal ou cortar os salários de todos. Como o senhor vê esse limite das cooperativas?
MH: Cooperativas são valiosas, mas, isoladas, não bastam. Inseridas no mercado global, sofrem as mesmas pressões das empresas por corte de custos e produtividade, o que leva a demissões e à precarização. É preciso uma estratégia política maior: combinação de cooperativas, provisão pública planejada e reestatização/gestão democrática de setores estratégicos como energia, petróleo e mineração. Sem uma mudança estrutural em escala, as cooperativas tendem a reproduzir dinâmicas capitalistas. •
Publicado na edição n° 1400 de CartaCapital, em 18 de fevereiro de 2026.
Este texto aparece na edição impressa de CartaCapital sob o título ‘Encruzilhada climática ‘
Apoie o jornalismo que chama as coisas pelo nome
Depois de anos bicudos, voltamos a um Brasil minimamente normal. Este novo normal, contudo, segue repleto de incertezas. A ameaça bolsonarista persiste e os apetites do mercado e do Congresso continuam a pressionar o governo. Lá fora, o avanço global da extrema-direita e a brutalidade em Gaza e na Ucrânia arriscam implodir os frágeis alicerces da governança mundial.
CartaCapital não tem o apoio de bancos e fundações. Sobrevive, unicamente, da venda de anúncios e projetos e das contribuições de seus leitores. E seu apoio, leitor, é cada vez mais fundamental.
Não deixe a Carta parar. Se você valoriza o bom jornalismo, nos ajude a seguir lutando. Assine a edição semanal da revista ou contribua com o quanto puder.




