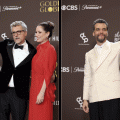Cultura
Super-ricos de estimação
O professor australiano Carl Rhodes examina o mito do “bom bilionário” e o processo de legitimação das fortunas


A consciência pública sobre a concentração extrema de renda nas mãos de bilionários ainda é emergente, mas nunca esteve tão em evidência nos debates. Uma das vozes mais relevantes e provocadoras nesse campo é a do professor Carl Rhodes, da University of Technology Sydney, na Austrália.
Professor titular de Negócios e Sociedade, Rhodes tem se destacado por questionar as formas como o capitalismo contemporâneo mina os princípios da democracia liberal. Em defesa de uma prosperidade compartilhada e do entendimento sobre o papel das políticas públicas, ele propõe uma reformulação profunda do papel das empresas na sociedade.
Em seu livro mais recente, Stinking Rich: The Four Myths of the Good Billionaire (Podre de Rico: Os Quatro Mitos do Bom Bilionário), publicado pela Bristol University Press, Rhodes examina criticamente os caminhos usados para se legitimar a fortuna e o prestígio dos chamados “bons bilionários”.
Ele os divide em quatro arquétipos: o vigilante, que afirma proteger o mundo por meio de sua riqueza; o meritocrático, que atribui o sucesso exclusivamente ao esforço individual; o heroico, que se apresenta como visionário que transforma o sistema; e o generoso, que busca reconhecimento moral por meio da filantropia.
Autor de vários livros e articulista de opinião de veículos como The Guardian e ABC News, Rhodes possui mais de 11,6 mil citações de acordo com o Google Scholar, reflexo da influência de sua obra nos campos da ética empresarial, teoria organizacional e crítica ao poder corporativo.
“Antes, escondia-se a riqueza por medo de revoluções, de reações populares. Hoje, ostenta-se”
Antes de dedicar-se à trajetória acadêmica, ela trabalhou em cargos de liderança em empresas como Citibank, Boston Consulting Group e AGL.
CartaCapital: O que o motivou a escrever Stinking Rich?
Carl Rhodes: Foi uma coincidência que o livro tenha saído no mesmo ano da reeleição do Trump. Na verdade, terminei de escrevê-lo em meados de 2024. A questão dos bilionários – o aumento tanto no número deles quanto em sua visibilidade – me pareceu urgente, porque ela reflete o aumento da desigualdade dentro dos países, entre países, e até entre gerações. A pergunta que me guiou foi: como eles conseguem escapar impunes? Antes, escondia-se a riqueza por medo de revoluções, de reações populares. Hoje, ostenta-se. Veja o caso de Jeff Bezos (fundador da Amazon), casando-se ostensivamente em Veneza. Eles se tornaram ícones culturais, muitas vezes vistos como figuras morais ou benevolentes. O livro tenta desmontar esse mito e questionar como as democracias liberais permitem que uma desigualdade extrema se disfarce de excelência.
CC: Você acredita que o governo Trump ajudou a expor a moralidade que envolve os bilionários? Especialmente considerando que muitos empresários de tecnologia passaram a demonstrar, sem constrangimento, que agem guiados por interesses privados, mesmo quando influenciam políticas públicas?
CR: Sim, esse é um ponto de inflexão importante. As democracias liberais convivem com uma tensão constante entre o capitalismo e os ideais democráticos. Mas hoje é cada vez mais evidente que a economia serve aos interesses de poucos. Governos, universidades e instituições públicas que representam a sociedade estão sendo marginalizados. As corporações existem por força da lei e da sociedade, mas se comportam como uma espécie de Frankenstein, adaptando-se aos tempos. Bilionários mudam de lado político conforme lhes convém. Elon Musk, por exemplo, passou de democrata a republicano. O próprio Trump já apoiou os democratas. A ideologia central deles é o individualismo, o interesse próprio.
 Senhores da desigualdade extrema. Rodhes, em seu livro, divide os bilionários em quatro arquétipos: vigilantes, meritocráticos, heroicos e generosos – Imagem: Nathan Rodgers/UTS Business School
Senhores da desigualdade extrema. Rodhes, em seu livro, divide os bilionários em quatro arquétipos: vigilantes, meritocráticos, heroicos e generosos – Imagem: Nathan Rodgers/UTS Business School
CC: Esse individualismo ressoa na classe média, que parece esquecer que não é pobre nem bilionária, mas acaba por legitimar a cultura dos bilionários?
CR: É uma boa observação. A classe média, sobretudo em tempos neoliberais, substituiu a solidariedade pelo individualismo. A classe média baixa está desaparecendo rapidamente, e o populismo de Trump alimentou-se dessa exclusão. A classe média profissional, aquela com diploma de nível superior e acesso a postos de trabalho avançados, ainda se sente segura, mas é uma ilusão. O “sonho americano” prometia sucesso para todos. Hoje, só uma minoria alcança isso. Tornou-se um sonho vazio. Mesmo assim, muitos acreditam estar do lado certo da desigualdade, validando sistemas que os excluem.
CC: Em seu livro anterior, Woke Capitalism, o senhor explorou como as corporações privadas se apropriaram de movimentos progressistas e pautas políticas… Como vê a relação entre wokeísmo, privatismo e cultura dos bilionários?
CR: Acho que estamos entrando na era pós-woke. Mas, no auge do wokeísmo, as empresas se apropriaram de movimentos de base, como Occupy Wall Street, Black Lives Matter e Me Too para promover suas marcas. Só que esses movimentos foram esvaziados de conteúdo econômico: direitos trabalhistas, salários, distribuição de renda. O wokeísmo virou estratégia corporativa. Agora que o clima político mudou, muitas dessas empresas, como a Meta, abandonaram essas causas. O que sobra é o velho interesse próprio.
CC: O que pensa sobre os entusiastas da singularidade e a cultura tech que defende deixar a Inteligência Artificial “crescer livremente”, como uma criança?
CR: Há muito exagero e fantasia nessa visão típica de uma cultura “tech bro”. Mas o que mais me preocupa é o pano de fundo cultural: um revival autoritário, marcado por um certo tipo de masculinidade. Não se trata apenas de tecnologia, mas da visão de mundo por trás dela. Vemos isso em figuras como Andrew Tate (influenciador digital conhecido pela retórica misógina e ostentação agressiva de uma masculinidade tóxica), Jordan Peterson (psicólogo canadense que se tornou referência para movimentos conservadores com sua crítica às políticas identitárias) e outros. É uma onda reacionária, ligada ao autoritarismo político.
“A pergunta que me guiou foi: como eles conseguem passar impunes”, diz o pesquisador
CC: Isso se conecta com outro tema: o anti-intelectualismo. No Brasil, as humanidades são frequentemente desvalorizadas em relação às ciências exatas. Como o senhor vê seu próprio trabalho nesse ambiente, especialmente como professor em uma universidade tecnológica?
CR: É difícil. Enfrentamos o mesmo anti-intelectualismo aqui na Austrália. Meus primeiros livros eram muito acadêmicos, ninguém lia. Agora tento escrever para um público mais amplo, participar do debate público. As humanidades conseguem analisar cultura e sociedade de formas que nenhum algoritmo é capaz. Precisamos fazer mais, não menos. Recentemente, uma grande universidade daqui propôs acabar com os departamentos de Sociologia e Política. Isso é alarmante, mas torna o nosso trabalho ainda mais urgente. Precisamos afirmar o valor das nossas disciplinas e nos manter engajados publicamente, com mídia, podcasts, palestras, livros.
CC: Sermos vozes públicas nos ajuda a posicionar as humanidades num mundo que quer se tornar “silicon tudo”?
CR: Sem dúvida. Precisamos fazer parte da vida e da educação públicas. Nenhum de nós vai mudar o mundo sozinho, mas cada um pode contribuir para um debate democrático mais amplo. Mesmo que o nosso impacto pareça pequeno, ele importa. Esperança não é acreditar que as coisas vão melhorar: é desejar que melhorem.
CC: Algumas pessoas dizem que estamos vivendo o pior momento da história da humanidade. O senhor concorda?
CR: Não necessariamente. Houve muitos períodos sombrios. Recentemente li Radical Hope, do Jonathan Lear, uma reflexão filosófica sobre o chefe Plenty Coups da Nação Crow, durante a destruição da cultura indígena pelos brancos nos EUA. Apesar de tudo, ele manteve a esperança. Lear chama isso de “esperança radical”: aceitar a realidade e, mesmo assim, sustentar valores e virtudes voltados ao futuro. É assim que tento pensar. •
Publicado na edição n° 1383 de CartaCapital, em 15 de outubro de 2025.
Apoie o jornalismo que chama as coisas pelo nome
Depois de anos bicudos, voltamos a um Brasil minimamente normal. Este novo normal, contudo, segue repleto de incertezas. A ameaça bolsonarista persiste e os apetites do mercado e do Congresso continuam a pressionar o governo. Lá fora, o avanço global da extrema-direita e a brutalidade em Gaza e na Ucrânia arriscam implodir os frágeis alicerces da governança mundial.
CartaCapital não tem o apoio de bancos e fundações. Sobrevive, unicamente, da venda de anúncios e projetos e das contribuições de seus leitores. E seu apoio, leitor, é cada vez mais fundamental.
Não deixe a Carta parar. Se você valoriza o bom jornalismo, nos ajude a seguir lutando. Assine a edição semanal da revista ou contribua com o quanto puder.