Mundo
Prenda a respiração
Tudo é possível na mais indefinida, e decisiva, eleição presidencial de todos os tempos

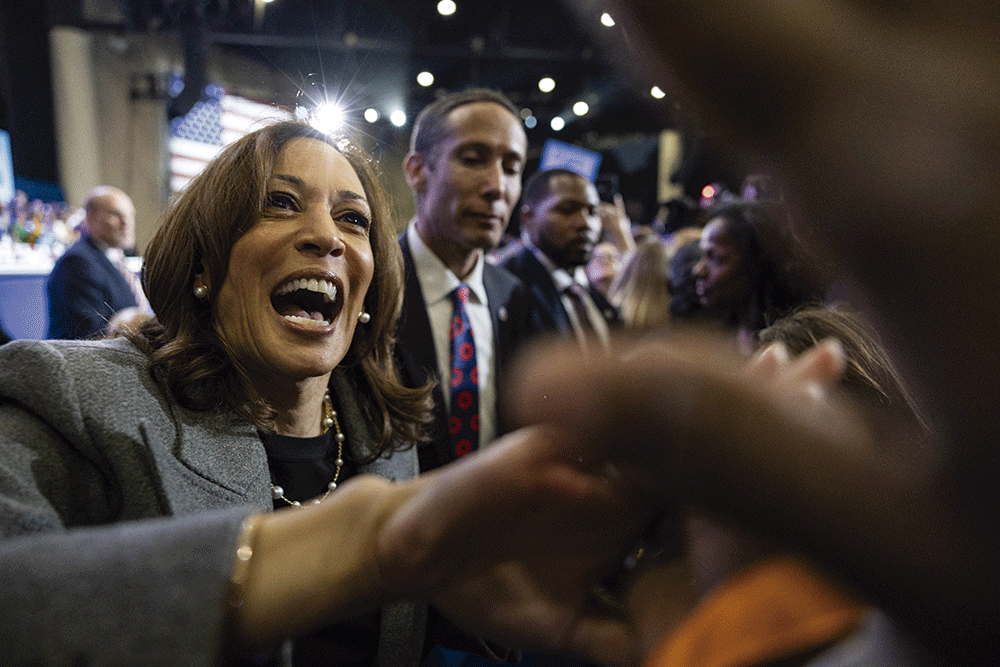
Em 5 de novembro, a maioria dos eleitores aptos a votar irá às urnas nos Estados Unidos sem nenhuma certeza de quem será o próximo presidente, quando o resultado será anunciado e quais as consequências da decisão, a depender do vencedor. Desta vez, nem o clichê do “olho eletrônico” é capaz de traduzir a dramática situação. Vários analistas políticos anteveem uma longa batalha jurídica travada pelas partes nos estados “pêndulos”, aquelas sete unidades da federação que costumam decidir a disputa. Há quem tema até uma “guerra civil”. A diferença entre a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump em diferentes pesquisas caiu ao mínimo nas últimas semanas, quando não evaporou. Na terça-feira 22, um levantamento nacional da Reuters/Ipsos dava à vice-presidente uma vantagem de 3 pontos sobre o ex: 46% a 43%. Outra sondagem, da reacionária e partidarizada Fox News, divulgada no dia 16, colocava o empresário à frente, 50% a 48%. Também na terça 22, uma análise da revista Forbes baseada na média das pesquisas apontou Harris na liderança por ínfimo 0,8 ponto porcentual e empate nos colégios eleitorais mais disputados.
Embora os especialistas tenham observado uma indiscutível vitória de Harris no único debate entre os candidatos, em 10 de setembro, a contenda assistida por quase 70 milhões de eleitores não se tornou um divisor de águas como muitos imaginavam. Os índices de preferência ou rejeição mantiveram-se constantes até o início de outubro e, desde então, Trump tem obtido pequenos, mas relevantes avanços nas sondagens, o que tornou as previsões ainda mais nebulosas. Os dois adversários intensificaram o número de entrevistas a veículos “inimigos”, na expectativa de convencer eleitores indecisos, e as viagens aos estados pêndulos, que ora apoiam os democratas, ora os republicanos: Arizona, Carolina do Norte, Geórgia, Michigan, Nevada, Pensilvânia e Wisconsin.
A diferença entre Harris e Trump tem encurtado nas últimas semanas
Em 2020, o atual presidente Joe Biden recebeu 7 milhões de votos a mais do que Trump, mas o que de fato garantiu a vitória foi a vantagem em seis desses sete estados. Pelo mesmo motivo, Hillary Clinton perdeu as eleições em 2016, apesar do grande apoio popular. A democrata recebeu 3 milhões de votos a mais que Trump, mas amealhou menos regiões decisivas do que o concorrente: apenas um dos sete campos de batalha.
Harris está, neste momento, entre Biden e Clinton. Segundo The New York Times, a ex-procuradora lidera em quatro dos sete estados, com margens apertadas, entre 1 e 3 pontos porcentuais, na margem de erro. Na quinta-feira 17, durante um comício em Wisconsin, onde lidera por 49% a 48%, a democrata criticou o incansável esforço do adversário para reescrever a história do 6 de janeiro de 2021, a invasão do Capitólio, crime pelo qual Trump é investigado. Em um encontro com eleitores latinos indecisos na noite anterior, o ex-presidente classificou o ataque como o “dia do amor” e, claro, mentiu sem corar as bochechas. Ninguém havia sido morto, disparou, entre outras barbaridades. A afirmação deixou os espectadores no auditório espantados e repercutiu negativamente. “Sabemos que 6 de janeiro foi um dia trágico. Houve ataques a agentes da lei, 140 policiais ficaram feridos, alguns foram mortos. E o que Donald Trump disse ontem à noite sobre 6 de janeiro? Ele o chamou de ‘dia do amor’. Chega. Estamos prontos para virar a página”, atacou a adversária.
 Caça. Os imigrantes são um dos temas centrais da campanha, em razão das ameaças do candidato republicano – Imagem: Glenn Fawcett/U.S. CPB
Caça. Os imigrantes são um dos temas centrais da campanha, em razão das ameaças do candidato republicano – Imagem: Glenn Fawcett/U.S. CPB
A sucessão de mentiras deslavadas e comportamentos erráticos de Trump tem deixado a equipe do republicano em alerta. Os democratas, por seu lado, exploram a imagem de “instável” e de “ameaça ao país” do empresário, que tem oferecido de bandeja fartos argumentos aos adversários. Por mais que o hábito de improvisar durante os comícios seja uma marca pessoal, o ex-presidente tem se comportado de maneira mais estranha e vulgar do que o habitual. Na segunda-feira 14, na Pensilvânia, onde, segundo as pesquisas, ele está um ponto atrás de Harris, Trump trocou o discurso por uma longa lista de suas canções preferidas no Spotify. “Que tal fazermos um pouco de música? Vamos fazer disso um festival musical”, sugeriu aos apoiadores há horas à espera do comício. Dois espectadores desmaiaram, mas a sessão de música continuou por quase 40 minutos. Como um lunático, o republicano ensaiou um bailado “cringe” no púlpito ao som de Ave Maria e do Village People.
Dias depois, em entrevista à Fox News, Trump sugeriu a convocação de militares para lidar com o “o inimigo interno” no dia da eleição. “Acho que o maior problema é gente de dentro. Temos algumas pessoas muito más. Temos algumas pessoas doentes. Lunáticos radicais de esquerda. Acho que isso deveria ser facilmente resolvido, se necessário, pela Guarda Nacional ou, se realmente necessário, pelos militares, porque eles não podem deixar isso acontecer.”
 Sem entusiasmo. Harris é vista com desconfiança pelos pares – Imagem: iStockphoto
Sem entusiasmo. Harris é vista com desconfiança pelos pares – Imagem: iStockphoto
Durante uma reunião com os doadores mais ricos, no fim de setembro, relatou The New York Times, Trump demonstrou insatisfação com as cifras arrecadadas. Harris recebeu 1 bilhão de dólares em menos de três meses como candidata, mais do que o adversário conseguiu no ano inteiro. O ex-presidente teria pressionado os grandes doadores a pingarem mais moedas no cofre. Funcionou, em parte. Relatórios recentes mostraram que Elon Musk desembolsou 75 milhões de dólares. Não só. O bilionário dono da rede X resolveu ultrapassar os limites mesmo para o padrão desregrado das eleições norte-americanas, onde a democracia tem preço e é bancada pelos ricaços. Musk promete sortear 1 milhão de dólares entre eleitores que se registrarem para a votação nos estados-chave e assinarem uma petição em defesa de ideias compatíveis com as propostas de Trump. Outra grande doadora é a médica israelense-americana Miriam Adelson, com 100 milhões de dólares. Ainda assim, o republicano acha pouco. A pressão tem causado constrangimento entre os aliados.
Enquanto Trump se excede, Harris peca pela falta de carisma e espontaneidade. A candidata raramente foge do script nos comícios e nas entrevistas e a rigidez tornou-se um motivo de preocupação da campanha. Por conta da cintura dura da ex-procuradora, dois nomes influentes e populares do partido mergulharam na disputa em busca do voto dos indecisos. O ex-presidente Bill Clinton passou a acompanhar o candidato a vice-presidente Tim Walz, enquanto Barack Obama tem falado diretamente com os homens negros, faixa do eleitorado resistente em apoiar Harris. Durante evento na Pensilvânia, Obama classificou de “intolerável” o sexismo contra a candidata. “Ainda não vimos os mesmos tipos de energia e comparecimento em todos os quarteirões de nossos bairros e comunidades como vimos quando eu estava concorrendo. Parte disso me faz pensar que, e estou falando diretamente com os homens, vocês simplesmente não estão sentindo a ideia de ter uma mulher como presidente, e estão apresentando outras alternativas e outras razões para isso. Você está inventando todo tipo de razão e desculpa. Eu tenho um problema com isso. Por um lado, você tem alguém que cresceu como você, te conhece, estudou com você na faculdade, entende as lutas, a dor e a alegria que vêm dessas experiências, mas você está pensando em ficar de fora ou apoiar alguém que tem um histórico de denegrir você, por que você acha que isso é um sinal de força? Por que isso é ser homem? Colocar as mulheres para baixo? Isso não é aceitável.”
A democrata enfrenta dificuldades para atrair o voto negro e árabe
Ao longo da corrida presidencial, Harris resistiu a falar sobre identidade racial. Os democratas dizem que a relutância tem a ver com a trajetória profissional da candidata no Ministério Público e sua recusa em usar a cor da pele para galgar postos de comando. Muitos negros se ressentem, no entanto, da falta de conexão da vice-presidente com seus problemas e causas. O partido precisa desesperadamente que os negros compareçam em massa às urnas.
Outro grande calcanhar de aquiles está no Michigan, residência de uma importante comunidade árabe-americana, historicamente aliada dos democratas. No estado, Harris e Trump estão empatados: 48% a 48%. Por causa do apoio incondicional do governo Biden ao massacre cometido por Israel em Gaza, as entidades árabes e milhares de eleitores decidiram, desta feita, manter distância da campanha. Desde fevereiro, a governadora Gretchen Whitmer, um dos nomes em ascensão na legenda, participa de encontros reservados com lideranças árabes e muçulmanas para amenizar os estragos políticos. Recentemente, Whitmer recebeu um grupo de colegas governadores, como Josh Shapiro, da Pensilvânia, em uma mobilização que visava convencer o maior número possível de indecisos. No sábado 19, a própria Harris, assim como Barack e Michelle Obama, esteve no Michigan e na Geórgia.
 Ruptura. O apoio cego a Israel custa caro aos democratas – Imagem: S. Melkisethian
Ruptura. O apoio cego a Israel custa caro aos democratas – Imagem: S. Melkisethian
A menos de duas semanas das eleições, as duas campanhas testam as últimas estratégias. Os republicanos têm estimulado os eleitores do partido a votar antes, pelo correio, e assim reduzir os índices de abstenção em 5 de novembro. Quem ganhar leva? O candidato a vice-presidente de Trump, JD Vance, durante o único debate contra Walz, em 1° de setembro, garantiu que não apenas respeitaria o resultado das urnas caso não fosse eleito, mas rezaria pelo sucesso da gestão Harris–Walz. Do lado democrata, a possibilidade de contestação é descartada em público. Será?
Caso todos os estados, à exceção dos pêndulos, votem como de praxe, Harris larga com 226 delegados no Colégio Eleitoral, que mais tarde homologa o vencedor, contra 219 de Trump. Os 93 votos restantes para se vencer dependem do eleitorado flutuante. Em caso de empate por 269-269, incomum, mas não improvável, a Câmara dos Representantes, o equivalente à Câmara dos Deputados no Brasil, escolheria o vencedor. Vantagem para Trump, pois os republicanos têm o maior número de parlamentares na Casa. •
Algoritmo político
As big techs mergulham na campanha presidencial dos EUA
por John Naughton*
 Compra de votos. Musk vai sortear 1 milhão de dólares para eleitores trumpistas que se cadastrarem – Imagem: Michael Swensen/AFP
Compra de votos. Musk vai sortear 1 milhão de dólares para eleitores trumpistas que se cadastrarem – Imagem: Michael Swensen/AFP
Nos longínquos anos 1960, o poderoso slogan “o que é pessoal é político” captava a realidade da dinâmica de poder nos casamentos. Hoje, um slogan igualmente significativo poderia ser “o tecnológico é político”, para refletir a maneira como um pequeno número de corporações globais adquiriu influência nas democracias liberais. Se alguém duvidava, a recente aparição de Elon Musk ao lado de Donald Trump num comício na Pensilvânia ofereceu uma confirmação de que a tecnologia passou ao centro das atenções na política norte-americana.
Musk pode ser um homem infantilizado com o péssimo hábito de tuitar, mas também é dono da empresa que fornece conectividade de internet para as tropas ucranianas no campo de batalha. E seu foguete foi escolhido pela Nasa como o veículo que levará os próximos norte-americanos a pousar na Lua.
Houve um tempo em que a indústria tecnológica não estava muito interessada em política. Não precisava estar, pois, na época, a política não estava interessada nela. Consequentemente, Google, Facebook, Microsoft, Amazon e Apple cresceram até suas atuais proporções gigantescas num ambiente político notavelmente permissivo. Quando os governos democráticos não estavam se deslumbrando com a tecnologia, estavam dormindo ao volante. E os reguladores antitruste tinham sido capturados pela doutrina legalista proposta por Robert Bork e seus facilitadores na Faculdade de Direito da Universidade de Chicago – a doutrina de que não havia muito problema na dominação corporativa, desde que não prejudicasse os consumidores. O teste do malefício era a imposição de preços e, como os serviços do Google e do Facebook eram “gratuitos”, onde estava o mal, exatamente? Embora os produtos da Amazon não fossem gratuitos, a empresa estava implacavelmente a reduzir os preços da concorrência e a atender à necessidade dos clientes de entrega no dia seguinte. Novamente, que mal havia?
Demorou um tempo inconcebível para que esse cochilo regulatório acabasse, mas, finalmente, acabou sob a supervisão de Joe Biden. Os reguladores dos Estados Unidos, liderados por Jonathan Kanter, no Departamento de Justiça, e Lina Khan, na Comissão Federal de Comércio, redescobriram seus poderes mágicos. Então, em agosto, o DOJ ganhou de forma dramática um processo antitruste, no qual o juiz decidiu que o Google era de fato um “monopolista” com medidas anticompetitivas para preservar sua participação de 90% nas buscas na internet. Agora, o DOJ propõe “remédios” para esse comportamento abusivo, dos óbvios, como proibir o Google de contratos como o que tem com a Apple para ser o mecanismo de buscas padrão em seus equipamentos, à opção “nuclear” de dividir a empresa.
O choque desse veredicto na indústria tecnológica foi palpável e levou alguns atores importantes do Vale do Silício a pensar que talvez eleger Donald Trump não fosse uma ideia tão ruim. Alguns dos falastrões, como Marc Andreessen – e, claro, Musk –, revelaram-se explicitamente a favor de Trump, mas ao menos outros 14 magnatas da tecnologia têm dado apoio mais discreto. Embora um bom número de líderes da tecnologia tenha, tardiamente, saído a favor de Kamala Harris, alguns o fazem com reservas. Reid Hoffmann, fundador do LinkedIn, por exemplo, doou 10 milhões de dólares à campanha democrata, mas diz que espera que ela demita Khan da FTC.
A prova mais dramática de que o Vale do Silício perdeu a virgindade política, entretanto, vem das quantias extraordinárias que as empresas de criptomoedas têm investido na campanha eleitoral. A New Yorker relata que as empresas de criptomoedas aplicaram “mais de 100 milhões de dólares” nos chamados SuperPACS (comitês de ação política), em apoio a candidatos amigos das criptomoedas. O interessante é que esse dinheiro não parece tanto ter o objetivo de influenciar quem ganhará a Presidência, mas garantir que os nomes “certos” sejam eleitos para a Câmara e o Senado. Isso sugere um nível de inteligência política que teria sido desprezado pelos pioneiros da tecnologia na década de 1960. A tecnologia talvez não fosse política naquela época, mas certamente é hoje.
*Professor de Compreensão Pública da Tecnologia na Open University.
Tradução de Luiz Roberto M. Gonçalves.
Publicado na edição n° 1334 de CartaCapital, em 30 de outubro de 2024.
Apoie o jornalismo que chama as coisas pelo nome
Depois de anos bicudos, voltamos a um Brasil minimamente normal. Este novo normal, contudo, segue repleto de incertezas. A ameaça bolsonarista persiste e os apetites do mercado e do Congresso continuam a pressionar o governo. Lá fora, o avanço global da extrema-direita e a brutalidade em Gaza e na Ucrânia arriscam implodir os frágeis alicerces da governança mundial.
CartaCapital não tem o apoio de bancos e fundações. Sobrevive, unicamente, da venda de anúncios e projetos e das contribuições de seus leitores. E seu apoio, leitor, é cada vez mais fundamental.
Não deixe a Carta parar. Se você valoriza o bom jornalismo, nos ajude a seguir lutando. Assine a edição semanal da revista ou contribua com o quanto puder.






