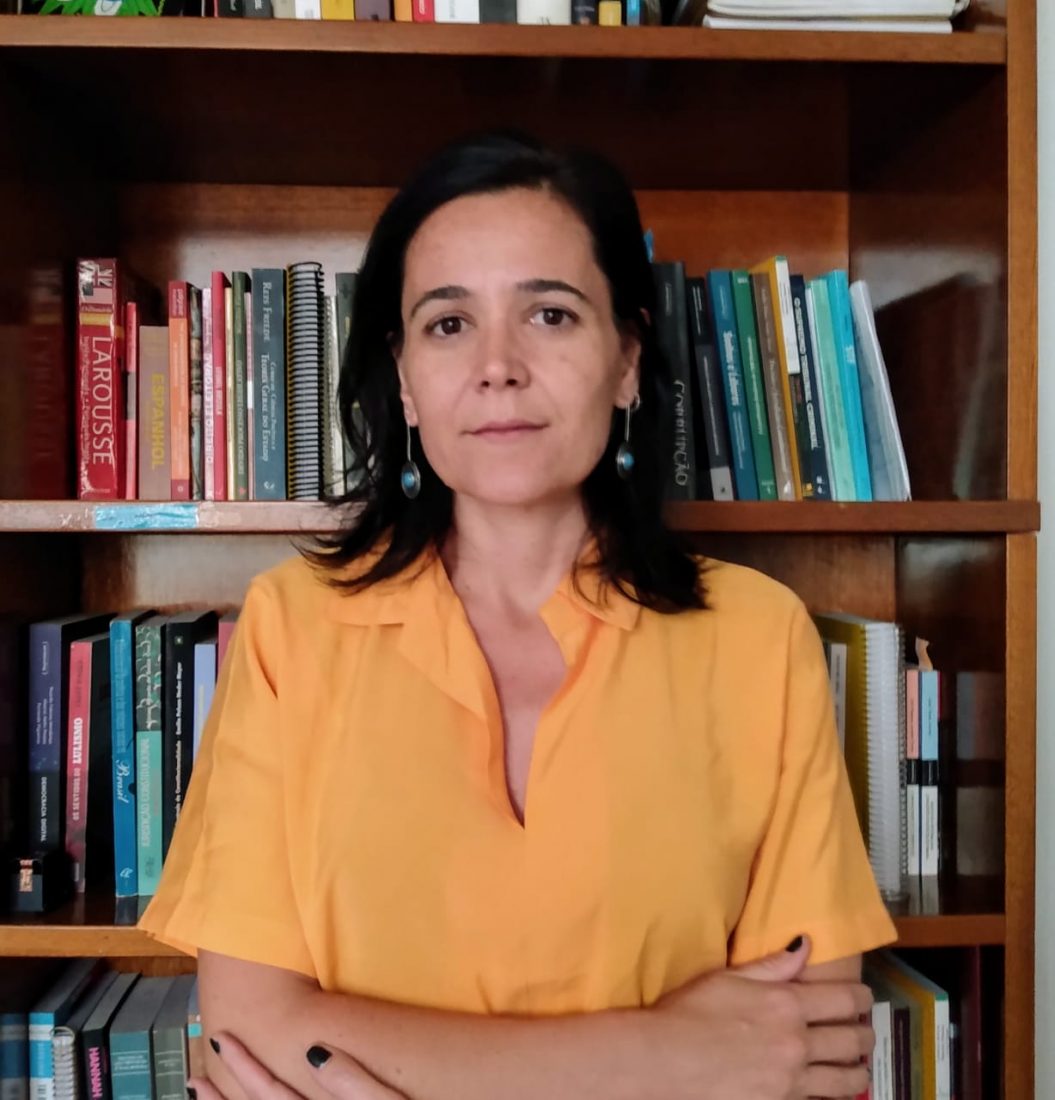
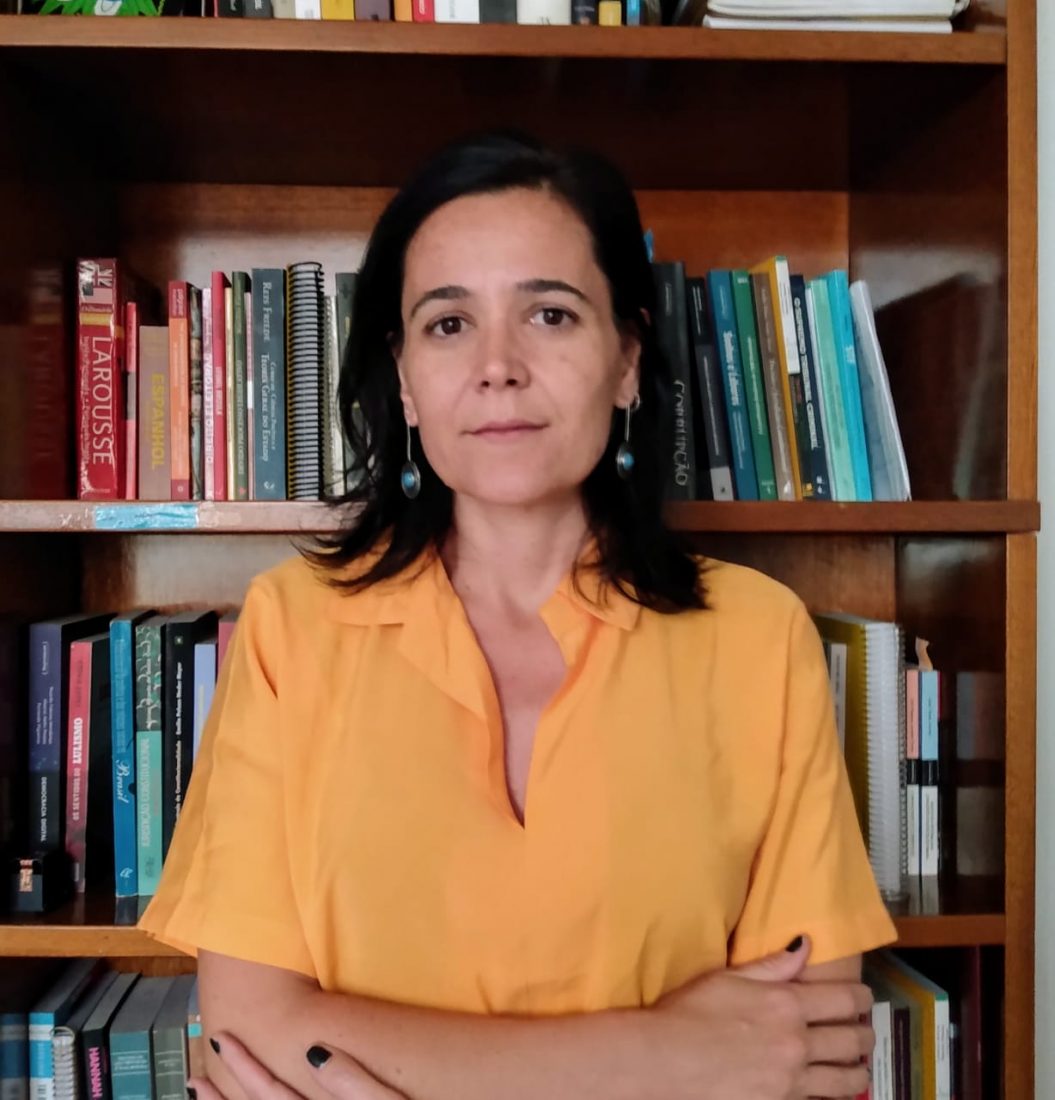
Opinião
Corpo estendido no chão
De frente para o crime, os autores de ‘Por Que a Democracia Não Morreu?’ preferiram fechar a janela


Em Por Que a Democracia Brasileira Não Morreu? recentemente lançado pela Companhia das Letras, os cientistas políticos Marcus André Melo e Carlos Pereira insistem na identificação da ruptura institucional (golpe) como o único indicador de crise ou colapso das democracias. Malgrado admitam certa malaise institucional e cinismo cívico, compatíveis com altos níveis de desconfiança pública nas instituições políticas, não os tomam como indicador de crise, senão como evidência da robustez do sistema político brasileiro pós-88.
O presidencialismo multipartidário no Brasil teria mostrado todo o seu vigor, inobstante a abreviação forçada do mandato de dois ex-presidentes e a prisão de um terceiro, quando liderava a corrida presidencial, a ascensão eleitoral de um aspirante a ditador à presidência e os ataques a direitos e instituições que coordenou a partir do Palácio do Planalto e a invasão e depredação das respectivas sedes dos três poderes.
Alguém poderia supor que tamanha cegueira verte de uma postura “opositora-desafiadora”, genuína ou de matriz estratégica, mas essa abordagem privaria o leitor a priori de alguns bons insights oferecidos pelos autores. A evidência do esforço de articulação teórica-analítica tampouco autoriza precipitação na avaliação do argumento de que nunca houve uma ameaça crível à democracia brasileira depois de 1988, por mais incrível que possa parecer. Por fim, não cabe qualquer suposição sobre eventual peso da orientação ideológica dos articulistas sobre sua tese, premissa facilmente revertida em desfavor dos críticos, especialmente na era da pós-verdade.
Essas são apenas algumas boas razões para se avançar respeitosamente na análise dos argumentos dos autores. Eis o primeiro ponto: malaise institucional e cinismo cívico não são categorias intercambiáveis. Envolvem uma dinâmica intraelites, no primeiro caso, e societária, no segundo. Cidadãos cínicos não são críticos. Ao contrário, a crítica é uma dimensão da política, que, como tal, se opõe ao cinismo cívico. Então como seria possível que os brasileiros tenham se tornado positivamente mais cínicos?
Ainda é menos razoável presumir que a suposta transformação tenha advindo da efetividade dos controles democráticos, em particular ou em última análise, do adequado funcionamento das instituições. A defesa desse ponto obriga os autores a colocar na conta dos governantes, especialmente de Lula e Dilma Rousseff, aqueles resultados cuja carga negativa tinham relativizado. Eis o segundo ponto: a malaise institucional e o cinismo cívico só podem se afirmar como decorrência das escolhas políticas dos governantes, como alternativa à explicação institucional, diante de um contrafactual que os autores não podem oferecer. Isso porque nenhum dos governos no pós-88 operou sob as mesmas bases institucionais, malgrado o presidencialismo de coalizão ter atraído para si a condição de frame analítico predileto dos cientistas políticos brasileiros.
Nesse tocante, convém destacar o fato de que apenas os governos do PT conviveram com uma dinâmica de disputa política da agenda anticorrupção que extrapolou não apenas a lógica da coalizão, mas do próprio sistema político, facultando acesso à elite judicial. A Operação Lava Jato não alterou apenas conjunturalmente a política nacional, foi o ponto alto de um processo incremental de mudanças institucionais que deslocaram as condições de governabilidade estabelecidas sob o marco constitucional. Foi o principal elemento detonador da derrocada do presidencialismo de coalizão que culminou no impeachment heterodoxo da ex-presidente Dilma e do recrudescimento da erosão da democracia, cuja maior expressão foi a eleição e o governo de Jair Bolsonaro.
Certamente outros fatores colaboraram para o ambiente de crise. A redução dos poderes e recursos à disposição do presidente para gerir a coalizão constrange suas escolhas, por exemplo. Em todo caso, evidenciam-se os limites estruturais do presidencialismo de coalizão em face de potenciais governos cindidos, quando o partido do presidente não tem base parlamentar majoritária. O desvelamento desse processo ancora as preocupações com a trajetória recente da democracia brasileira.
A defesa da resiliência da ordem constitucional não se constitui como um contraponto satisfatório à percepção do processo de autocratização durante o governo Bolsonaro. Resiliência dialoga com ruptura, de modo que a teoria dificilmente captura movimentos mais ou menos sutis de degradação da institucionalidade democrática, de que a persistência da malaise institucional e do cinismo cívico dão testemunho. E definitivamente não me parece ser aquele caso em que, distraídos, venceremos. •
Publicado na edição n° 1321 de CartaCapital, em 31 de julho de 2024.
Este texto aparece na edição impressa de CartaCapital sob o título ‘Corpo estendido no chão’
Este texto não representa, necessariamente, a opinião de CartaCapital.
Apoie o jornalismo que chama as coisas pelo nome
Depois de anos bicudos, voltamos a um Brasil minimamente normal. Este novo normal, contudo, segue repleto de incertezas. A ameaça bolsonarista persiste e os apetites do mercado e do Congresso continuam a pressionar o governo. Lá fora, o avanço global da extrema-direita e a brutalidade em Gaza e na Ucrânia arriscam implodir os frágeis alicerces da governança mundial.
CartaCapital não tem o apoio de bancos e fundações. Sobrevive, unicamente, da venda de anúncios e projetos e das contribuições de seus leitores. E seu apoio, leitor, é cada vez mais fundamental.
Não deixe a Carta parar. Se você valoriza o bom jornalismo, nos ajude a seguir lutando. Assine a edição semanal da revista ou contribua com o quanto puder.
Leia também

Moraes manda incluir Zambelli em investigação da PF sobre tentativa de golpe
Por CartaCapital
‘Entregaremos e seremos oposição’, diz filho de Maduro sobre eventual derrota na Venezuela
Por André Lucena




