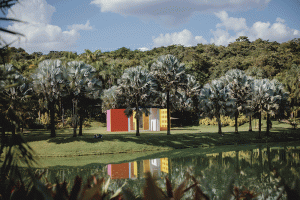Cultura
A crença na música
Para Marcelo Lopes, que entrou na Osesp aos 19 anos, como trompetista, gerir a cultura é aprender a lidar com a escassez


Na quinta-feira 7, sob a regência de Thierry Fisher e com as aventuras sonoras, rítmicas a harmônicas de Beethoven e Brahms, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) abriu sua nova temporada, marcada por uma efeméride dupla: seus 70 anos e os 25 anos da Sala São Paulo.
Em um País no qual as instituições culturais muitas vezes carecem de perenidade, a trajetória da Osesp, em especial nas duas últimas décadas, tornou-se exemplo de um tipo de gestão da arte no século XXI. Tornada Fundação em 2005, a orquestra mantém-se por meio de repasses do governo paulista e de apoios privados.
A verba pública, este ano, responde por pouco menos da metade do orçamento de 140 milhões de reais. O resto vem, sobretudo, dos mais de 60 patrocínios e de algumas doações. Embora 245 mil pessoas tenham ido à Sala São Paulo em 2023 – o que significa uma taxa de ocupação de 72% –, as bilheterias e assinaturas, sozinhas, cobriram apenas 7% do orçamento.
Marcelo Lopes, diretor-executivo da Fundação, explica que uma orquestra, por ser uma atividade de “intensiva mão de obra”, tem custos muito altos, e crescentes. “Além disso, temos a necessidade de democratizar o acesso a preços baixos”, diz o gestor que é também músico e completa, neste 2024, 40 anos de Osesp.
“Osesp, Pinacoteca ou Museu da Língua Portuguesa não têm a função de reparar mazelas que são históricas”, afirma, sobre a Cracolândia
Ele tinha 19 anos quando entrou no grupo então comandado pelo maestro Eleazar de Carvalho (1912-1996) para tocar trompete. Os caminhos trilhados paralelamente à vida artística – uma faculdade de Direito, outra de Economia e a participação ativa na associação de músicos – o levaram ao posto que ocupa desde 2005.
Feito o literato Settembrini de A Montanha Mágica, de Thomas Mann, Lopes parece acreditar na música como uma força capaz de levar o mundo avante. E a Osesp, aos 70 anos, parece de fato uma força imparável. Apenas este ano, serão 27 programas sinfônicos na Sala São Paulo e, somados eventos fora da sede e projetos variados, serão quase 120 apresentações.
Além do grupo sinfônico, a Fundação abriga, entre outros, os coros, a Academia e o Festival de Inverno de Campos do Jordão. Hoje, emprega mais de 300 pessoas.
 Efemérides. São celebrados, em 2024, 70 anos da orquestra e 25 da Sala São Paulo – Imagem: Mário Daloia
Efemérides. São celebrados, em 2024, 70 anos da orquestra e 25 da Sala São Paulo – Imagem: Mário Daloia
Criada por lei, em 1954, a Osesp fez parte de um movimento mais amplo então em curso em São Paulo. Pouco antes, no imediato pós-Guerra, tinham sido criados, também na capital, o Museu de Arte de São Paulo (Masp) e a Bienal. Pouco tempo depois, o Brasil viveria o projeto nacional-desenvolvimentista dos anos JK.
O conjunto orquestral, no entanto, nasceu frágil e chegou a ficar anos sem tocar. Ao menos duas décadas se passariam desde a sua criação até que a orquestra, como conta Marcelo Lopes na entrevista a seguir, começasse a adquirir as feições de hoje.
CartaCapital: Embora se esteja comemorando os 70 anos, vou menos longe no tempo. Como era a Osesp 40 anos atrás, quando você entrou na orquestra. Ela já tinha relevância para a cidade?
Marcelo Lopes: A Osesp, naquele momento, cobria uma lacuna importante na vida musical paulista. Até o fim dos anos 1960, o repertório sinfônico não era algo muito presente na vida das pessoas aqui. O teatro importante da cidade, o Municipal, era voltado para o repertório lírico, especialmente italiano. Foi apenas quando o maestro Eleazar de Carvalho assumiu a Osesp, em 1973, vindo dos Estados Unidos, que começaram a acontecer os primeiros ciclos de sinfonias de Bruckner e de Mahler, Suítes de Bach e música barroca. A partir daquele momento, a orquestra passou a tocar toda segunda-feira à noite no Teatro Cultura Artística. Esse é o fio condutor da Osesp: Eleazar volta ao Brasil para desenvolver em São Paulo o gosto pela música clássica e a aptidão dos músicos para a música de concerto. Até então, não tínhamos músicos que conhecessem profundamente o repertório sinfônico. Entrei na orquestra em 1984 e fiz parte da primeira geração a ser treinada por Eleazar para essa finalidade e a ter uma possibilidade de carreira. Antes disso, ele trouxe muitos músicos de fora – alguns, seus ex-alunos na Juilliard School. Aqui, não tínhamos material humano para formar uma orquestra com qualidade. A despeito de todas as crises econômicas daquele período, dos salários baixos e das dificuldades para trazer solistas de qualidade, Eleazar ficou na Osesp até morrer, em 1996, e entregou o material humano para John Neschling fazer o que fez.
CC: Até a criação da Fundação Osesp, a orquestra chegou a ter sua existência ameaçada?
ML: A Osesp tinha vínculo com a Fundação Padre Anchieta e, por isso, os concertos eram transmitidos semanalmente pela TV Cultura – isso em um momento em que a TV Cultura tinha boa audiência e maior prestígio. Não era incomum um músico chegar a uma padaria e alguém dizer que o tinha visto tocando. O que existia era um limbo jurídico, porque se tratava de um equipamento público para o qual o governo não havia criado cargos. No fim, esse problema acabou por facilitar a transformação da orquestra em fundação, porque não tínhamos um corpo de funcionários públicos. Mas, não, a Osesp não chegou a ter a existência ameaçada, apesar de ter passado por momentos muito difíceis.
“A beleza da gestão de um projeto cultural é realizar os nossos objetivos ainda que com poucos recursos”
CC: Pode-se considerar a inauguração da Sala São Paulo, em 1999, como o momento em que o Estado abraça de vez a ideia de ter uma orquestra?
ML: A construção da sala foi o grande ponto de alavancagem da Osesp. Depois da reforma de 1996 (Neschling, quando assume, faz um concurso interno para decidir que músicos seguiriam no grupo), tínhamos uma orquestra tecnicamente excelente, mas sempre sob risco de ser mambembe. Tocávamos ora no Theatro São Pedro, ora no Memorial da América Latina, ora no Sérgio Cardoso. Com a Sala São Paulo, passamos a ter um espaço voltado à linguagem sinfônica e a orquestra deixou de ser apenas um equipamento para se tornar uma proposição de política pública.
CC: Ao criar a Sala São Paulo, o governo dizia ser ela parte de um projeto de revitalização da região. Isso não só não aconteceu como a região só se deteriora mais e mais. Como é ser a Osesp no meio da chamada Cracolândia?
ML: Nos últimos 25 anos, a sociedade paulista não encarou esse problema com a seriedade devida. O resultado é que a situação não só não melhorou, como se degradou. A ingenuidade foi tomar a consequência pela causa. Entender que em um lugar onde há equipamentos culturais de qualidade não há degradação humana significa atribuir ao equipamento cultural uma função que ele não tem. Osesp, Pinacoteca ou Museu da Língua Portuguesa não têm a função de reparar mazelas que são históricas. Se existia, de fato, esse desejo que você menciona, eu diria tratar-se de algo ingênuo. Por outro lado, e não me parece contraditório dizer isso, esses lugares, na medida em que geram interesse na região, produzem também um olhar mais preocupado sobre o entorno. Na semana passada, o Iphan tombou o Complexo Cultural Júlio Prestes, e a Sala São Paulo é citada no despacho. Ao mesmo tempo que não fomos suficientes para a revitalização, nossa existência chama atenção para uma necessidade de política pública.
CC: Ainda paira sobre a Osesp certa imagem de elitismo…
ML: Para quem acha que esse é um argumento válido, só tenho um pedido: vá. Não é um conselho, mas um pedido. Vá e constate com os próprios olhos se é elitista ou não. Esta é uma resposta que não se dá falando, mas que se dá fazendo. Quem for vai descobrir diversidade, preços acessíveis, gente jovem, uma comunidade LGBTQIA+ presente e acessibilidade do ponto de vista estrutural e financeiro. Isto é o que fazemos lá todos os dias. Quem acha que a Osesp é elitista, é porque não está indo.
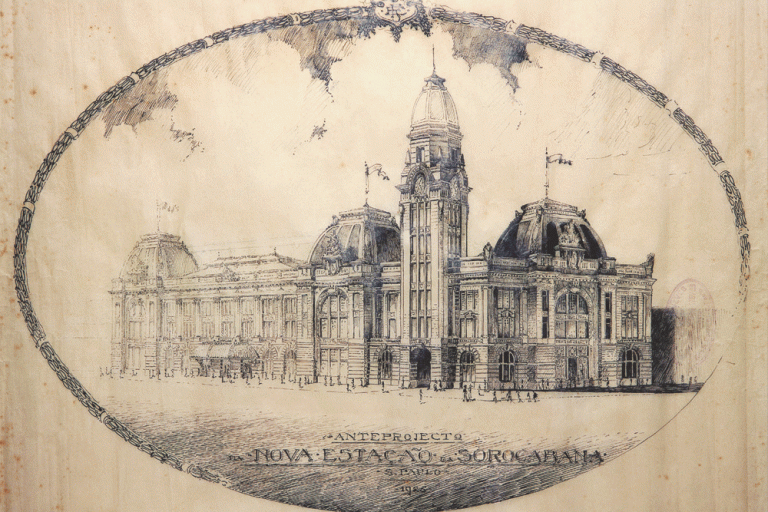 Marcos. Eleazar de Carvalhon chegou à orquestra em 1973. O edifício da estação ferroviária, projetado em 1925, viraria uma sala de concertos em 1999 – Imagem: Acervo Fundação Eleazar de Carvalho
Marcos. Eleazar de Carvalhon chegou à orquestra em 1973. O edifício da estação ferroviária, projetado em 1925, viraria uma sala de concertos em 1999 – Imagem: Acervo Fundação Eleazar de Carvalho
CC: Ser músico é essencial para gerir uma orquestra? Ou, talvez, o que eu queira saber é: na sua opinião, ter afinidades eletivas com a arte é essencial para gerir a cultura? Ao mesmo tempo, o quão importante seria termos mais artistas com gosto por gestão?
ML: O uso do cachimbo entorta a boca, né? Então, eu acho essencial. Olhando para esses quase 20 anos da Fundação Osesp, me parece que eu ter tido experiência como músico na orquestra foi fundamental para conseguir administrá-la. O que falta, muitas vezes, é o outro lado: o músico que tenha competência ou formação em gestão. Não podendo reunir as duas coisas, o que eu prefiro? O gestor que não sabe sobre arte. Porque os princípios da arte você, tendo interesse, aprende. E um bom gestor vai aprender sobre o “produto” porque isso é da natureza do seu trabalho. Mas não é da natureza do músico entender sobre gestão e lidar com a finitude dos recursos – a gente não administra a abundância, só administramos a escassez. A beleza da gestão de um projeto cultural é realizar os nossos objetivos ainda que com poucos recursos. Mas, nas minhas andanças pelo mundo, vejo a busca por pessoas com afinidade artística que também tenham talento administrativo. Em vez de esperar chegar alguém pronto, eles preparam quem demonstra alguma habilidade para as duas coisas. E vem daí o sucesso de algumas orquestras, por exemplo, da Inglaterra ou dos Estados Unidos. O diretor de marketing da Philharmonia, de Londres, é trompetista; a diretora de turnês, clarinetista; e a diretora de comunicação tocava piano. A gente ainda não tem, no Brasil, um bom curso de gestão em artes performáticas, mas deveria. Há diferenças entre gerenciar um museu, uma orquestra ou uma ópera. Brinco que os nossos Rembrandts estão vivos. Os dos museus, não. Para os nossos Rembrandts temos de dar vale-alimentação, salário…
CC: Você sente saudade de tocar trompete?
ML: De tocar, não, porque toco, ainda que para mim. Mas de tocar na orquestra, muita. A música que sempre me encantou, desde garoto, foi a sinfônica, que meu pai me ensinou a ouvir. Gosto mais dela que da música de câmara ou o solo. Acredito na orquestra como o lugar onde as diversas potencialidades se realizam e onde se cria, coletivamente, algo que jamais existiria individualmente. Quando dois naipes tocam juntos, cria-se um terceiro som que não existe na natureza. E é mágico isso, porque as combinações de instrumentos, cores e timbres em uma orquestra são infinitas. É uma aventura e uma descoberta diária. Sinto falta da surpresa artística.
CC: Para terminar, gostaria que você falasse sobre a escolha da Ressurreição, de Mahler, para comemorar os 25 anos da Sala São Paulo, no dia 9 de julho.
ML: O renascimento é um milagre. A vida é algo que a gente toma de empréstimo de manhã, entrega de noite e, no dia seguinte, espera que esteja lá de novo. Ao tocar a Ressurreição, a gente reafirma a crença na música clássica como algo que transforma as pessoas, tocando-as de uma maneira como nenhuma outra arte consegue – inclusive, porque ela soa de forma diferente em cada ouvido. Quem estava na sala há 25 anos e ouvir a Ressurreição hoje vai ouvir com um ouvido renovado. Os músicos, por sua vez, vão tocar com inspiração e crenças renovadas no que fazemos. Naquele momento, a Ressurreição era a recuperação de um espaço que nasceu como estação ferroviária e virou sala de concerto. Hoje, a conotação é outra: é a renovação da própria crença na arte. •
Publicado na edição n° 1301 de CartaCapital, em 13 de março de 2024.
Este texto aparece na edição impressa de CartaCapital sob o título ‘A crença na música’
Apoie o jornalismo que chama as coisas pelo nome
Depois de anos bicudos, voltamos a um Brasil minimamente normal. Este novo normal, contudo, segue repleto de incertezas. A ameaça bolsonarista persiste e os apetites do mercado e do Congresso continuam a pressionar o governo. Lá fora, o avanço global da extrema-direita e a brutalidade em Gaza e na Ucrânia arriscam implodir os frágeis alicerces da governança mundial.
CartaCapital não tem o apoio de bancos e fundações. Sobrevive, unicamente, da venda de anúncios e projetos e das contribuições de seus leitores. E seu apoio, leitor, é cada vez mais fundamental.
Não deixe a Carta parar. Se você valoriza o bom jornalismo, nos ajude a seguir lutando. Assine a edição semanal da revista ou contribua com o quanto puder.