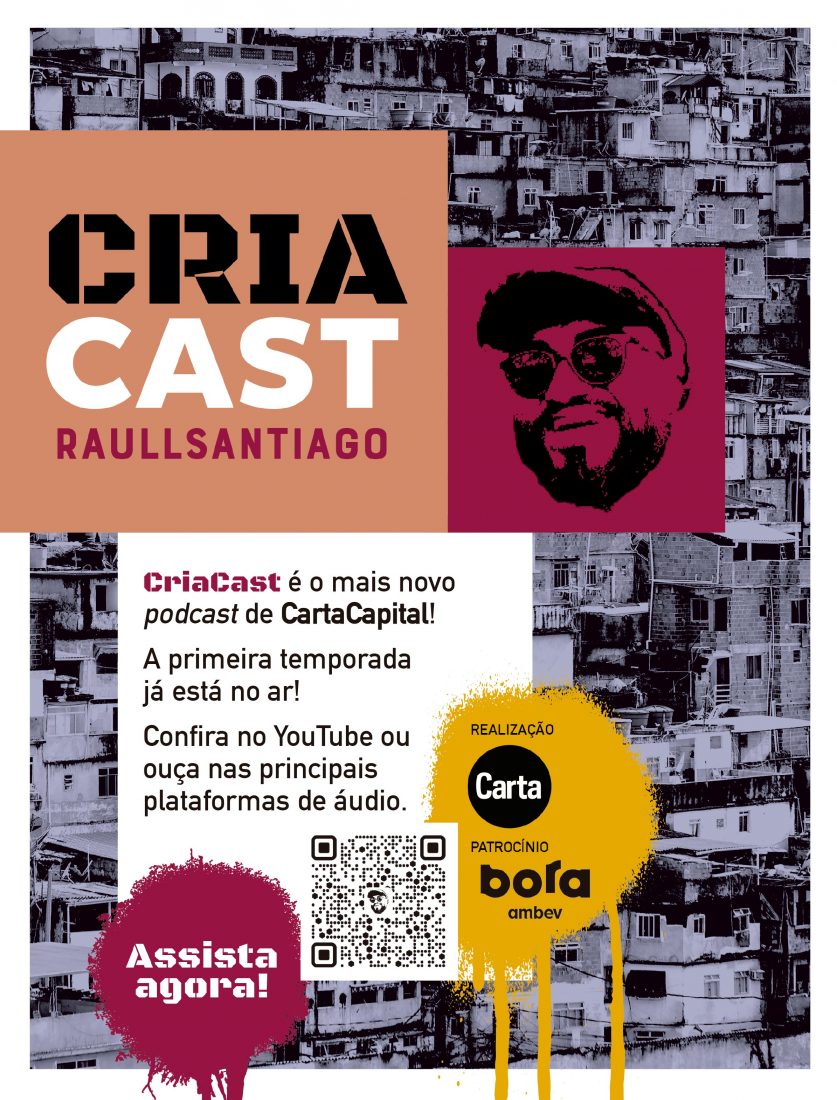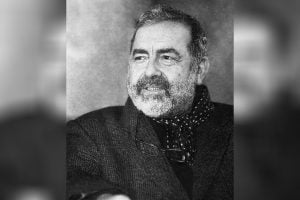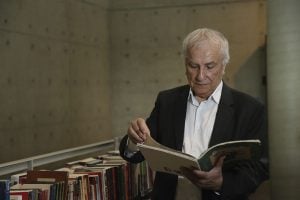Cultura
O corpo visto como obsoleto
Um estudo recorre a pinturas, fotos e a produções de TV para analisar as velhices em diferentes sociedades


No período em que trabalhou no jornal O Globo, o colunista esportivo Fernando Calazans recebeu um e-mail de um leitor com elogios à sua coluna. O leitor fez, porém, uma ressalva: disse que o colunista se tornava um chato quando, ocasionalmente, lembrava os nomes de jogadores como Pelé, Didi, Garrincha e Nilton Santos, entre outros.
Com o talento e a classe que o caracterizam, Calazans respondeu: “Imagino que, se o leitor gostasse, digamos, de literatura, em vez de futebol, acharia muito chato também o crítico que fizesse referência a Shakespeare, Cervantes, Eça de Queiroz e Machado de Assis. E que, se gostasse de pintura, odiaria falar de Leonardo da Vinci, Rembrandt, Van Gogh e Picasso.”
O episódio retrata à perfeição o pouco-caso com que as gerações mais novas tendem a olhar para o passado e, por consequência, para a velhice. Embora a longevidade tenha se tornado um tema corriqueiro, raras vezes se vê um recorte sobre o tema como este apresentado no livro A Invenção da Velhice Masculina – Da Antiguidade às Séries de Streaming, Como se Formou a Ideia do Homem Idoso, de Valmir Moratelli.
 A INVENÇÃO DA VELHICE MASCULINA. Valmir Moratelli. Matrix (224 págs., 53 reais) – Compre na Amazon
A INVENÇÃO DA VELHICE MASCULINA. Valmir Moratelli. Matrix (224 págs., 53 reais) – Compre na Amazon
O trabalho é um alongamento de parte da tese defendida pelo autor no Departamento de Comunicação da Pontifícia Universidade Católica do Rio. Formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Moratelli pesquisa velhice, masculinidade, novas linguagens audiovisuais e temas tabus.
No trabalho, ele analisa as velhices em diferentes sociedades, a partir de fontes não apenas escritas, mas imagéticas, a partir de pinturas, fotografias, registros arqueológicos, esculturas e produções televisivas.
A passagem do tempo foi, desde sempre, uma questão para o homem – e um dos motivos para isso é, justamente, o desgaste físico intrínseco à velhice, também chamada de terceira idade. No Brasil, esse termo, segundo Moratelli, apareceu pela primeira vez na edição de número 30 da revista O Cruzeiro, em 1944.
Algumas décadas depois, mais precisamente em 1971, o termo seria empregado como sinônimo de velhice em uma reportagem, no Jornal do Brasil, sobre o livro A Velhice (1970), de Simone de Beauvoir. A criação da expressão terceira idade é atribuída ao gerontologista francês Jean Auguste Huet.
A despeito do Estatuto do Idoso, que obriga o Estado e a sociedade a assegurar os direitos da pessoa idosa – garantidos também pela Constituição – ainda grassam o preconceito e, em muitos casos, a falta de assistência. O olhar de desdém sobre o idoso ficou bem claro durante o período da pandemia, exposto de forma objetiva e acurada pelo autor:
“A mídia divulgou alertas e declarações políticas, inclusive que ‘elogiavam’ a morte de idosos pela Covid-19, o que seria positivo para diminuir o rombo nas contas da Previdência Social e melhorar o desempenho econômico. Sim, houve quem comemorasse a pandemia, visando a redução do déficit previdenciário brasileiro. É a lógica sórdida do capitalismo neoliberal. Isso é chamado de ‘necropolítica’”, frisa Moratelli.
A ideia de necropolítica foi desenvolvida pelo filósofo camaronês Achille Mbembe para definir as relações de poder de uns sobre outros, quando um grupo pode, inclusive, garantir o extermínio desses “outros”, caso considere isso necessário.
Como ressalta Tatiana Siciliano, professora da PUC-Rio, na orelha do livro, a velhice masculina é plasmada por uma ideia de “inutilidade reprodutiva”. O idoso, de acordo com essa leitura, carece de uma função protagonista na máquina neoliberal que tritura tudo que considera obsoleto. Essa engrenagem, ao valorizar a virilidade, expõe a fragilidade de corpos velhos nos embates com o ideal da plenitude. •
VITRINE
Por Ana Paula Sousa

Pixel (DBA, 176 págs., 64,90 reais) é a primeira obra da húngara Krisztina Tóth publicada no Brasil. O volume reúne 30 breves histórias nas quais a Europa, com seus fluxos migratórios e seu legado de separações e desconfianças, surge tanto como cenário quanto como personagem.

O sebastianismo, marca indelével da formação identitária portuguesa, é reconstituído como história e depois como farsa em Morte e Ficção do Rei Dom Sebastião (Tinta da China, 288 págs., 90 reais). Para destrinchar o mito, André Belo escava o passado com os olhos do presente.

O narrador de Eu, Bernardo (Maralto, 285 págs., 49,90 reais), livro pertencente ao gênero Young Adult, é um adolescente alto, magro e tímido (e sempre de fones de ouvido) que, a convite da psicóloga, resolve escrever sobre si. Daniela Pinotti, a autora, é ela a própria psicóloga.
Publicado na edição n° 1290 de CartaCapital, em 20 de dezembro de 2023.
Este texto aparece na edição impressa de CartaCapital sob o título ‘O corpo visto como obsoleto’
Apoie o jornalismo que chama as coisas pelo nome
Depois de anos bicudos, voltamos a um Brasil minimamente normal. Este novo normal, contudo, segue repleto de incertezas. A ameaça bolsonarista persiste e os apetites do mercado e do Congresso continuam a pressionar o governo. Lá fora, o avanço global da extrema-direita e a brutalidade em Gaza e na Ucrânia arriscam implodir os frágeis alicerces da governança mundial.
CartaCapital não tem o apoio de bancos e fundações. Sobrevive, unicamente, da venda de anúncios e projetos e das contribuições de seus leitores. E seu apoio, leitor, é cada vez mais fundamental.
Não deixe a Carta parar. Se você valoriza o bom jornalismo, nos ajude a seguir lutando. Assine a edição semanal da revista ou contribua com o quanto puder.
Leia também