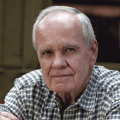Cultura
Ao Vivo
Acredite. O meu irmão comprou o túmulo dele aos 21 anos de idade


O Brasil vivia dias de muita tensão. Um avião da Varig decolara rumo ao Chile levando 38 militantes de esquerda, em troca da liberdade do embaixador suíço, Giovanni Enrico Busher, sequestrado pela Aliança Libertadora Nacional, a ALN. Enquanto isso, alguns amigos sumiam pra nunca mais.
Na Ásia, apoiados pelo americanos, doze mil soldados do Vietnã do Sul invadiam o Laos para impedir o avanço comunista pela trilha Ho Chi Min.
Na África, o ditador Idi Amim Dada derrubava o presidente Milton Obote e tornava-se o poderoso chefão de Uganda.
O mundo tinha ficado mais triste. Havíamos perdido o rock and roll de Janis Joplin, a música clássica de Igor Stravinsky e o jazz de Louis Armstrong.
Enquanto Bangladesh tornava-se independente, os astronautas da Apolo 14 viviam no mundo da lua, passeando por ela pra lá e pra cá. Enquanto as forças da repressão caçavam Carlos Lamarca no sertão da Bahia, o meu irmão de 21 anos comprava um túmulo em Belo Horizonte.
Falando assim, pode parecer uma história da Macondo de Gabriel Garcia Márquez mas não é. Conto com detalhes.
O Cemitério do Bomfim, em Belo Horizonte, já não cabia mais nenhuma alma viva, não comportava mais ninguém, nem morto. Foi quando alguém resolveu criar um novo cemitério pra cidade, o Parque da Colina.
Quando o vendedor tocou a campainha e minha mãe levantou-se para a abrir a porta, o meu pai já sabia quem era e brincou.
– Diga a ele que eu morri!
Mas era brincadeira. Quando cheguei na copa, o vendedor, Gumex no cabelo e vestindo um terno da Ducal, já estava abrindo os prospectos em cima de uma enorme mesa colonial que tínhamos em casa. Pelos mapas que ele ia desdobrando, dava pra ver que o Parque da Colina não tinha cara de cemitério. Era verde para tudo quanto é lado.
O projeto era de um parque, construído nos moldes dos cemitérios americanos. Muita grama, nada de mausoléus com anjos e santos enormes. Apenas muito verde e cruzes brancas com o nomes do mortos.
Meu pai, que adorava brincar com a morte, gostou da conversa e foi logo escolhendo um lugar na zona de conforto. Disse ao vendedor que queria um túmulo onde houvesse muita árvore e um boteco por perto.
– Quero sombra e água fresca e nada de túmulo longe do boteco, senão meus amigos não vão aparecer nem pro enterro, quanto mais pra fazer uma visita de tempos em tempos.
O meu irmão de 21 anos estudava Engenharia Mecânica e acabara de conseguir o primeiro emprego, receber o primeiro salário, enquanto eu continuava naquela química de decorar a tabela periódica e de tentar entender as noções básicas de trigonometria.
Ele se aproximou da mesa e quando o vendedor disse que o preço era uma pechincha, de lançamento, não pensou duas vezes.
– Eu também quero um túmulo!
O meu irmão de 21 anos comprou um jazigo por 1.380 cruzeiros, com entrada de 130 e o restante em 30 suaves prestações.
Hoje ele tem 66 anos e uma saúde de ferro. E o jazigo está lá, valorizadíssimo. Ele paga o condomínio religiosamente em dia mas não tenho notícias de que visite o local onde está o seu túmulo.
Hoje, o jazigo do meu irmão fica rodeado de árvores e perto do jazigo do meu pai, que há mais de duas décadas descansa ali em paz. O meu irmão herdou dele essa mania de brincar com a morte. No final de semana, quando mandei um e-mail pra ele perguntando quanto pagara pelo túmulo, em 1971, além de me passar todos os detalhes, ainda brincou no ps:
“Se há uma coisa que eu não posso dizer é que não tenho onde cair morto”.
Apoie o jornalismo que chama as coisas pelo nome
Muita gente esqueceu o que escreveu, disse ou defendeu. Nós não. O compromisso de CartaCapital com os princípios do bom jornalismo permanece o mesmo.
O combate à desigualdade nos importa. A denúncia das injustiças importa. Importa uma democracia digna do nome. Importa o apego à verdade factual e a honestidade.
Estamos aqui, há mais de 30 anos, porque nos importamos. Como nossos fiéis leitores, CartaCapital segue atenta.
Se o bom jornalismo também importa para você, nos ajude a seguir lutando. Assine a edição semanal de CartaCapital ou contribua com o quanto puder.