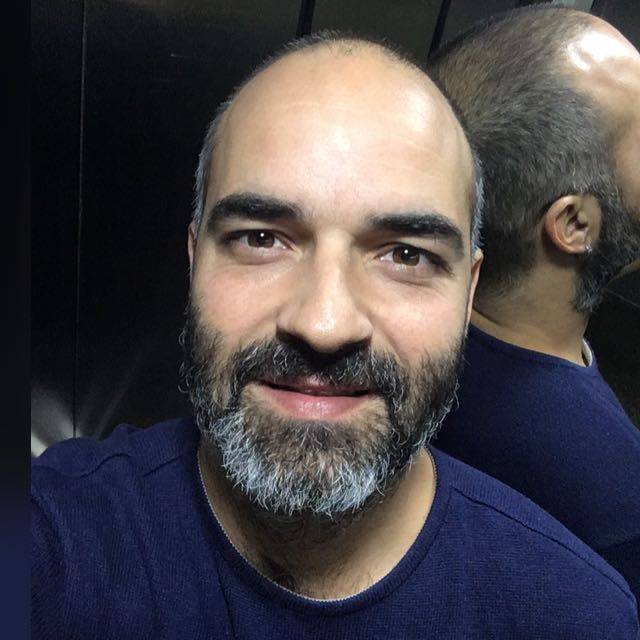Diversidade
‘O colorismo é o braço articulado do racismo’
Autora do recém-lançado ‘Colorismo’, a advogada e pesquisadora Alessandra Devulsky explica como o tom de pele produz hierarquias no racismo

Para a advogada e pesquisadora Alessandra Devulsky, debater o colorismo é urgente. Especialmente na sociedade brasileira, ancorada sobre o mito da democracia racial e sobre a negação do racismo que estrutura as relações no País.
“O colorismo é, basicamente, um conceito, uma categoria, uma prática, mas sobretudo é uma ideologia na qual hierarquizamos as pessoas negras de acordo com o fenótipo que têm”, explica ela, que é autora do recém-lançado Colorismo, 9º título da coleção Feminismos Plurais, organizada pela filósofa Djamila Ribeiro
Superar essa dicotomia, avalia, pode fortalecer a luta antirracista — especialmente no Brasil, onde o assunto ainda é motivo de muita polêmica e mal-entendido. E compreender suas raízes históricas é fundamental para a criação de políticas públicas eficazes, que deem conta da complexidade do tema, a partir do reconhecimento da questão racial como “algo absolutamente historicizado, dependente da forma como a História vai moldando as culturas e as sociedades”.
Atualmente professora de Direito no programa de mestrado da Universidade de Québec em Montréal, ela analisa também algumas diferenças entre o racismo nas sociedades canadense e brasileira.
Confira a seguir.
 Alessandra Devulsky doutora em Direito pela Universidade de São Paulo, é professora em cursos de pós graduação em Direito no Canadá, onde reside. Foto: Arquivo Pessoal.
Alessandra Devulsky doutora em Direito pela Universidade de São Paulo, é professora em cursos de pós graduação em Direito no Canadá, onde reside. Foto: Arquivo Pessoal.
CartaCapital: O que é colorismo?
Alessandra Devulsky: Eu costumo dizer que o colorismo é o braço articulado, o braço tecnológico do racismo e, assim como o racismo, tem nuances na forma como se desenvolve, de acordo com a sociedade, a cultura a qual adere, na qual é construído. Então, o colorismo é, basicamente, um conceito, uma categoria, uma prática, mas sobretudo é uma ideologia na qual hierarquizamos as pessoas negras de acordo com o fenótipo que têm: aproximado ou distanciado da africanidade, próximo ou distante da europeidade.
Essa prática, por sua vez, é um fenômeno ligado à questão da miscigenação racial. E aqui é bom fazer uma observação: sempre acho engraçado falar de miscigenação, porque, por exemplo, quando um casal europeu – um francês e um alemão – tem um filho, a gente não diz que o filho é miscigenado. E por que não diz? Porque ser branco faz parte da norma. A gente só fala em miscigenação porque culturalmente entende-se, infelizmente ainda, que ser negro, ser indígena, ser asiático, é o ponto fora da curva. É aquilo que não é a regra, a norma. Acontece, porém, que a questão da raça é algo absolutamente historicizado, dependente da forma como a História vai moldando as culturas e as sociedades.
O primeiro passo é pensar no colorismo como essa categorização, essa hierarquização das pessoas segundo o tom de pele, mas não exclusivamente sobre isso. Existem outros traços ligados à africanidade que também vão arregimentar as formas pelas quais o racismo vai se empregar, no ambiente de trabalho, no espaço público, no espaço familiar, no espaço privado.
A questão do cabelo, por exemplo, que é associado à africanidade, a questão da largura das narinas, da espessura dos lábios, tudo isso faz parte dos traços que a gente associa culturalmente à africanidade ou à europeidade e, de acordo com a aproximação ou a distanciação daquilo que a gente entende como regra de ser branco — e quando eu digo ‘a gente’ é a sociedade de uma forma geral —, vão categorizando essas pessoas. E existem todos os arquétipos: o homem negro que tem o arquétipo de ser violento, o homem negro associado à virilidade, a mulher negra que é associada ao trabalho doméstico, a um aparte do que entendemos como ‘beleza europeia’, um distanciamento para negros e negras da ideia de que podem ter as mesmas competências intelectuais. Ou seja, existe também uma associação – fruto do colonialismo – de achar que negros têm menos habilidades intelectuais e que teriam uma pré-disposição genética para trabalhos físicos.
Tudo isso são resquícios do mundo colonial, que faz parte, basicamente, de todo o nascedouro das Américas. E quando eu digo ‘nascedouro’, digo a partir da sua invasão pelos colonizadores europeus, porque, antes, esse tipo de hierarquização de acordo com o tom da pele não existia nas Américas; ele é trazido pelo europeu.
CC: Então podemos relacioná-lo com a colonização?
AD: Aí eu acho que a gente chega num ponto importante, que é dizer, portanto, que o colorismo não é criação da comunidade negra, assim como não é o racismo; o colorismo e o racismo são práticas, ideologias, que foram criadas para facilitar e para legitimar o processo de dominação dos povos e de escravização de uma grande parcela da população; e a manutenção de um processo de escravização durante 300 anos, no Brasil, precisa de uma organização ideológica muito forte para poder manter a coesão do sistema. Porque, em dado momento, no mundo colonial, a gente passa a ter uma parcela muito grande da população que é negra. Portanto, para organizar e, inclusive, para arrefecer, vamos dizer assim, as possibilidades de revolta, vão sendo criadas essas hierarquizações, ligadas, por sua vez, à questão do fenótipo, da aparência. Quando eu falo que é uma ideologia, é porque isso acaba se tornando também cultura, acaba fazendo parte, já no mundo colonial, dos preceitos que a gente emprega na nossa vida familiar.
Então, o senhor de engenho na hora de escolher quem é a pessoa escravizada que vai fazer os trabalhos domésticos – que são considerados menos penosos do que o trabalho no campo – vai escolher a negra de pele clara; por quê? Porque é a negra que se aproxima daquilo que eles entendem como o mais bonito, o mais palatável para os olhos. E isso, obviamente, sendo feito de forma sistemática, durante séculos, vai criando uma hierarquização, que, embora tenha como nascedouro o projeto colonial, também passa, em alguma medida, a ser introjetada, interiorizada pela própria comunidade negra, porque ela percebe que essa é uma prática que gera certas vantagens para um e aprofunda desvantagens e explorações para outros, e esses outros são os negros de pele escura, são os negros que têm os traços de africanidade mais aprofundados.
CC: E como você articula o colorismo com o capitalismo?
AD: Então, eu sempre acho importante fazer o recorte histórico, para compreender que o colorismo só existe porque existe uma sociedade racializada e ele só é interiorizado pela comunidade negra porque passa a fazer parte da cultura brasileira; passa a fazer parte do modo pelo qual a gente organiza uma sociedade, que, em determinado momento, passa a ter 56% da população negra. Ou seja, não branca. E aí como eu faço para resolver esse problema quando, desses 56%, mais de 46% são pessoas negras de pele clara; ou seja, pessoas negras, mas que têm traços dessa miscigenação? O lugar do branco, nessa sociedade, é um lugar que precisa ser preservado, e é algo que responde muito bem a uma necessidade do capital. O capital precisa criar segmentos, precisa hierarquizar classes, precisa organizar as pessoas de acordo com as funções que elas devem exercer em uma sociedade submetida ao modo de produção capitalista. Portanto, o racismo é esse elemento imprescindível para se organizar as sociedades e para superexplorar determinados segmentos.
Criam-se as tecnologias, utiliza-se da história colonial para dizer: “Não, mas essas pessoas que têm esses traços de africanidade vão ser sistematicamente desvalorizadas porque não são tão competentes. Os negros não têm essa disponibilidade para o trabalho intelectual, então, não precisam estudar. Portanto, nós não precisamos investir em escolas públicas para esse segmento da população, porque, de qualquer modo, não é o tipo de trabalho que eles vão fazer; as universidades não devem ser ocupadas por eles. Existem outros tipos de trabalho manual que podem ser exercidos por eles”. O David Harvey, a partir do que Karl Marx coloca, bate muito na tecla de que a realização do capital na produção depende da desvalorização do trabalhador. E essa desvalorização precisa de recursos ideológicos, culturais, inclusive ela se utiliza do racismo e instrumentaliza o racismo que existe. A partir disso se conclui que o colorismo auxilia, vamos dizer assim, a organização da sociedade, inclusive pelo próprio Estado. Na hora de fazer as escolhas das políticas públicas, se formos analisar sistematicamente para onde vão os investimentos em hospitais e escolas, vamos perceber que o subfinanciamento, ou a não alocação de verbas para esses serviços fundamentais, vai atingir, em grande parte, os 46% da população negra de pele clara, os chamados pardos, pelo IBGE, e os pretos, que são os negros de pele escura, que são um pouquinho mais de 9% da população.
Toda essa organização só é possível numa sociedade tão miscigenada, como é a brasileira, por meio do desenvolvimento da ideologia do colorismo, que atua para que essa maioria da população não consiga atingir os mesmos recursos que os brancos brasileiros. Então, o colorismo é esse grande engenho do racismo que permite, e que facilita, a concentração de renda e a permanência dessas desigualdades sociais no decorrer da História do Brasil.
CC: Poderia falar sobre a importância do reconhecimento do colorismo para a implementação de políticas públicas de qualidade?
AD: Mais uma vez, é uma repercussão de uma leitura materialista da realidade. Se eu percebo que pessoas com a pele mais escura, pessoas que têm traços majoritariamente ligados à africanidade, têm dificuldade de obter emprego, têm dificuldade de acesso a um serviço de saúde ou outro serviço de qualidade, têm dificuldade para morar em espaços dignos, com acesso a saneamento básico; tudo isso precisa ser considerado no momento de se desenhar, no momento de se planificar políticas públicas. Portanto, ao ler uma estatística, eu preciso saber exatamente de qual forma posso atingir a população negra, mas sem deixar para trás a população negra de pele escura, porque, segundo todos os indicadores estatísticos e socioeconômicos do Brasil, entre a população negra, ela faz parte do segmento mais vulnerabilizado.
Então, eu não posso promover políticas públicas às cegas. O color blindness, ‘a cegueira para as cores’, não funciona nem para o racismo nem para o colorismo. Não dá para usar o argumento da ‘cegueira para cores’ quando estamos diante de questões ligadas ao colorismo. Ou seja, na hora de desenhar políticas públicas é preciso saber como será feita a alocação dos recursos, garantindo que esses recursos atinjam pessoas negras de pele clara, mas também negros de pele escura.
CC: Quando você fala que o colorismo só existe porque existe uma ideia de hierarquização racial, penso em um mecanismo ligado à ideia de eugenia…
Quando a gente fala de eugenismo, parece uma coisa distante do Brasil, ligada a Hitler, mas na verdade as ideias de eugenia começam no processo de colonização. Cadeiras em universidades europeias – na Grã-Bretanha, na Itália, na França – que ensinaram para alunos, durante décadas, sobre como identificar superioridade ou inferioridade biológica entre crânios de pessoas negras e crânios de pessoas brancas, de acordo com a medida de certos ossos. Ou seja, foi algo profundamente organizado pelo Estado, que financiou em algum momento essas universidades, e pelas religiões, porque a Igreja Católica também fez parte da produção dessas teorias eugênicas. E isso é utilizado como fundamento do processo de colonização. Mas o capitalismo – com toda a sua plasticidade, com todo o seu desenvolvimento – vai se adaptando aos seus regimes de acumulação, aos seus novos modos de produção com a revolução industrial. Não é que a gente deixa de lado as teorias da eugenia, tanto não a deixamos de lado, que elas foram reutilizadas, recicladas em Auschwitz, com o hitlerismo. Ou seja, nós reutilizamos as mesmas categorias do eugenismo para dizer que judeus eram menos humanos, ou eram menos competentes, ou eram inferiores à “raça ariana”, de acordo com aquilo que os apoiadores, os cientistas ligados ao hitlerismo, indicavam.
Hoje a gente sabe que isso é uma pseudociência, mas no século XVII e XVIII, e muito recentemente na Alemanha hitlerista, isso era estudado, era levado muito a sério. Isso deixa traços que o capitalismo sabe muito bem utilizar. E sabe utilizar por quê? Porque na organização de um capital plástico, global, que não vê fronteiras, eu reciclo essas ideias permanentemente para dizer, por exemplo: “para quê vamos conservar essas terras indígenas? Para quê vamos preservar terras para essas pessoas que não produzem? O que elas fazem? O que elas apresentam de benefício para a sociedade?”. É uma ideia racista em relação aos indígenas, como se a cultura, a língua, as estratégias de utilização da terra e a própria relação com a natureza, como se tudo isso não fosse algo absolutamente urgente de ser apreendido em um mundo de crise climática.
Na verdade, a gente precisa retornar à forma pela qual essas comunidades indígenas estabeleceram uma relação de equilíbrio com a natureza, coisa que foi perdida com o capitalismo e que estamos aí, aprendendo a duras penas, o quanto custa utilizar recursos naturais como se fossem inesgotáveis. Porque eles se esgotam e, ao se esgotarem, nós, seres humanos, somos os primeiros a ter problemas de saúde, moradia, uma vez que não se pode construir mais casas em determinado local, agora alagável; não podemos mandar nossas crianças para a escola, porque a umidade está baixa – que é o caso de Mato Grosso, eu sou mato-grossense – por conta das queimadas nas florestas, mas também por conta da alteração do regime de chuvas. Se há uma alteração do regime de chuvas, a umidade cai tão drasticamente que o simples ato de respirar se torna agressivo para o sistema respiratório.
Então, o que o capitalismo faz, modernamente, esse capitalismo financeirizado que a gente vê, é utilizar desses recursos para dizer: “muito bem. Vamos criar, por exemplo, um novo regime de trabalho, que é o regime da terceirização”. E quem são os terceirizados? Os negros. Existem regimes que só são possíveis porque quem vai ser precarizado, quem vai perder benefícios, perder a dignidade no exercício do trabalho, são pessoas negras. A sociedade ainda vê essas pessoas, infelizmente, como aquelas que podem aguentar, podem se submeter a um regime de trabalho indigno. E isso é muito colonial.
CC: Poderia falar um pouco mais sobre essa ideia de supremacia racial?
AD: Combater o colorismo também é combater essa ideia de supremacia branca, de supremacia racial. E isso faz bem para a sociedade como um todo. A ideia de supremacia branca não é prejudicial só ao negro. Ela o é também ao branco. Porque cria uma série de recalques, pressões, em cima da pessoa branca, de expectativas de superioridade que – todos sabemos – não existe. E isso é opressor também, contra o branco; é claro que o negro vai sofrer isso de uma forma que vai ter repercussão socioeconômica, que ele vai ter dificuldade para ocupar determinados postos de trabalho, ele vai ter salários mais baixos. É claro que a grande violência é contra o negro, porque ele é o oprimido. Mas a ideia de supremacia branca, por ser uma ideia falseada, é uma ideologia que também faz mal para o branco. Porque para poder manter de uma forma falseada uma superioridade que não existe, você é obrigado a oprimir, você é obrigado a reproduzir coisas que não têm lastro na realidade. E isso é extremamente prejudicial para as nossas relações, não só no espaço público, mas também no privado.
A ideia de supremacia racial é tão presente na nossa sociedade que seria ingênuo dizer que negros também não interiorizam essas ideias de hierarquização racial.
Precisamos lutar também contra esses paradigmas. Então, não é “por nada” que grandes porções da sociedade africana vão usar cremes clareadores de pele que são cancerígenos. Elas sabem que faz mal para a pele, sabem que existe um risco. Mas por que fazem? Não é porque acreditam profundamente na superioridade branca, e sim por uma questão material. Elas sabem que, tendo a pele mais clara, vão ter relações sociais facilitadas, vão ter mais acesso a recursos, vão ser mais valorizadas no seu ambiente de trabalho. Portanto, acho muito cruel culpar a mulher por querer clarear a pele. O que a gente precisa é compreender que sistema é esse, tão poderoso, capaz de fazer com que uma mulher coloque em risco sua saúde para poder entrar num padrão completamente exógeno à sociedade.
E no Brasil, a gente não tem uma grande indústria de clareadores de pele porque o colorismo brasileiro é tão eficaz que não abrange somente a cor da pele, abrange também os traços do rosto, o formato do corpo, o tipo de cabelo. Então, o colorismo no Brasil é muito mais sofisticado, nuançado. Para você ser considerado mais próximo do conceito de branquitude, de beleza europeia, vai precisar mudar seu nariz, seus lábios, seu cabelo, e o tom de pele é só mais uma das coisas. Por isso eu sempre digo que, no Brasil, o colorismo é ainda mais cruel, porque abrange todos os traços ligados à africanidade. Coisa que não existe, exatamente, na África.
CC: Numa entrevista à filósofa Djamila Ribeiro você fala que o colorismo deve ser usado para unir e não para desunir. Pode falar sobre isso?
AD: O que acontece e, realmente, é algo que me incomoda bastante é… enfim, eu compreendo a preocupação de algumas pessoas que dizem: “ah, mas se a gente vai começar aqui a falar que existe uma hierarquia e que existem algumas vantagens para certos negros e desvantagens para outros, nós vamos desunir a comunidade negra e vai ser ainda mais difícil arregimentar as pessoas na luta antirracista”. Por que é complicado fazer uma afirmação como essa? Porque é a mesma coisa de se dizer: “não vamos falar do racismo, porque senão as pessoas vão se melindrar, porque todo mundo no Brasil é racializado, todo mundo, de alguma forma, foi exposto a atos racistas, ou a atos de hierarquização das pessoas, e que resultam nesse desprezo pelo negro no Brasil; portanto, não vamos falar sobre isso, senão vai impedir que brancos se unam à luta antirracista”. Ninguém fala isso.
Todo mundo sabe que, para conseguirmos ter algum sucesso na luta antirracista, é primordial que a comunidade negra se una e se organize para reivindicar direitos que lhe pertencem e que lhe foram negados historicamente. Mas a luta antirracista não será frutífera se brancos não se tornarem também antirracistas. Se brancos não perceberem que uma sociedade racializada é prejudicial ao negro, mas também ao branco. Não é só o negro que sofre com o racismo; o branco também “sofre”, entre aspas, né? Eu não diria que é um sofrimento, mas um sofrimento das repercussões de uma sociedade racializada, e que não são positivas. Gera violência, gera desigualdade social e tudo isso gera uma sociedade que é anacrônica, sem coesão social necessária para poder caminhar, no sentido de desenvolver-se de uma forma plena e igualitária. Então, debater o colorismo é o exercício, vamos dizer assim, mais pragmático daquilo que a gente chama de materialismo histórico. É um método. Eu não posso negar a realidade. Eu não posso, simplesmente, olhar para o mercado de trabalho e dizer que pessoas negras de pele escura têm as mesmas chances de serem promovidas a um cargo, ou de passarem em uma entrevista de trabalho para uma grande multinacional, do que negros de pele clara, porque as estatísticas me mostram que isso não é verdade. Então, o nosso papel como pesquisador, como intelectual, é fazer essas constatações e compreender as razões – as profundas, as econômicas, as culturais – do porquê a sociedade se organiza dessa forma.
CC: Nessa mesma entrevista, você mencionou um dado muito interessante sobre concentração fundiária.
AD: Eu estava olhando uma pesquisa do IBGE sobre a questão da propriedade rural no Brasil. Essa pesquisa é muito interessante para mostrar o colorismo de forma material. É o Censo Agro, de 2017. E nesse censo, a gente vê que mais de 72% dos donos de propriedades rurais acima de 500 hectares são brancos. Ou seja, estamos falando de grandes propriedades. Quando a gente olha pelo recorte racial, só 23,9% da população negra de pele clara, os chamados pelo IBGE de pardos, possuem estabelecimentos agropecuários acima de 500 hectares; e só 2,5% de negros de pele escura, os pretos, segundo o IBGE, são proprietários de grandes propriedades rurais. Então, fica muito claro que o racismo existe porque existe uma profunda maioria de grandes propriedades rurais pertencentes a brancos, mas também que, dentro do segmento negro, existe, de algum modo, uma maior facilidade para negros de pele clara obterem financiamento em bancos, maior facilidade de ter oportunidade de compra dessas terras, de estabelecer contratos comerciais com empresas que vão adquirir essas commodities rurais etc.
Mas não falo isso como uma maneira de dizer: “para resolver o problema do colorismo e do racismo, então, é só defender a criação de grandes propriedades rurais também para negros”. Não! Não é isso que estou dizendo. Até porque não acredito que grandes propriedades rurais, com produção de commodities, desenvolvam um país de capitalismo de periferia, como o Brasil. A gente precisa de desenvolvimento de tecnologia, de valorização dos recursos naturais que temos; isso vai desenvolver o país, e não o contrário. Não continuar numa economia de latifundiário, de criação de commodities para o mercado externo, sem poder, sequer, fornecer aquilo que é necessário para o nosso mercado interno, com preços que sejam acessíveis à população vulnerável.
O que eu digo é que a materialidade da vida, vamos dizer assim, nos mostra de uma forma muito clara o racismo e o colorismo na distribuição de renda. Então, esses mesmos dados, se formos olhar, 0,4% de indígenas possuem essas grandes propriedades rurais. Por quê? Porque os indígenas não valorizam a produção em larga escala. A comunidade indígena sabe que a natureza não é feita para ter uma plantinha de soja atrás da outra num raio de 500 hectares. A gente sabe que a natureza, a floresta, é diversa. Ela tem diversas formas de ocupação do território e a forma de ocupação indígena permite ao espaço se regenerar e se reproduzir de maneira balanceada. Mas é esse exemplo de propriedade rural que indica a maneira pela qual a racialização e o colorismo organizam até a forma de exploração da terra. Agora, quando observamos grandes movimentos sociais, como o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), a grande maioria das pessoas são negras. E elas não querem grandes propriedades rurais; querem pequenas parcelas de propriedade rural para fazer produção agrícola familiar. Ou seja, voltada para o mercado interno, voltada para uma economia que possa se tornar autossuficiente. Algo que, infelizmente, o Brasil está longe de se tornar.
CC: Sobre as mulheres negras canadenses no mercado de trabalho, é verdade que, ao contrário do que ocorre com as brasileiras, elas têm menos desvantagens em relação aos homens negros canadenses?
AD: Existe uma pesquisa da Universidade Laval que indica essa diferença em relação à sociedade brasileira. Porque, quando a gente compara com as pesquisas brasileiras, a gente vê, realmente, a mulher negra na base da pirâmide. Ou seja, o homem negro tem uma média salarial um pouco melhor do que a da mulher negra. E isso, que Angela Davis e Lélia Gonzalez colocam muito bem, é a questão da sobreposição das opressões, as quais só conseguimos enxergar por meio da aplicação de um método materialista das desigualdades e de um método interseccional também, de compreensão de como essas opressões se articulam de forma conjunta.
Agora, de fato, o Canadá é uma sociedade patriarcal também, a exemplo dos Estados Unidos, mas aconteceu um massacre de mulheres na Polytechnique da Universidade de Montreal, na década de 1980, e isso deixou uma marca muito profunda na sociedade canadense. Um atirador entrou com uma metralhadora no campus, tirou os homens das salas e pediu às mulheres que ficassem. Após fazer um discurso, dizendo que elas morreriam por serem mulheres, matou dezenas delas. Esse massacre criou uma fratura na sociedade, foi algo muito importante, no sentido de se reconhecer a misoginia e a violência contra as mulheres. A partir de então, o Estado se organizou e criou medidas de correção da distorção. Não resolveu o problema, mas o fato de ter reconhecido que a sociedade era patriarcal e misógina levou a alguns avanços. E isso se percebe na forma como as discriminações se articulam hoje em dia.
As mulheres negras canadenses têm, de fato, mais igualdade no mercado de trabalho do que a mulher negra brasileira.
E isso me entristece muitíssimo, uma vez que as mulheres negras no Canadá são minoria, e nós, mulheres negras no Brasil, somos maioria. Então, é muito triste de observar, mas ao mesmo tempo nos dá alguma esperança de perceber que quando o Estado constata uma grande desigualdade, uma discriminação, e promove medidas para corrigí-las, isso, a longo prazo, tem efeitos muito positivos. E, no Canadá, a gente consegue perceber tal avanço porque as mulheres têm um pouco mais – não está resolvido, a sociedade continua patriarcal e misógina, mas tem-se um pouco mais de igualdade do que no Brasil. E isso me indica que o primeiro passo para poder se pensar em medidas de correção é reconhecer o machismo, o sexismo, o colorismo, o racismo e o classismo.
E, falando mais uma vez, tanto o colorismo, como o racismo, como o sexismo, são problemas estruturais da sociedade, que você não resolve de forma individual. Não é acordar amanhã de manhã e dizer: “Bom, então é isso. Eu sou antirracista, vou lutar contra o colorismo”. Individualmente, a gente não pode muita coisa. Mas se nos organizarmos como sociedade civil, se começarmos a pautar nossos votos por tais valores, o Estado vai começar a responder. É sempre bom frisar que políticos nefastos, como o atual presidente do Brasil, não são seres que planam, que flanam no ar. Eles são reflexos da nossa sociedade. A gente precisa encarar esse reflexo feio, que é a atual Presidência e, a partir da constatação de não querermos mais esses tipos de valores conduzindo as políticas públicas no Brasil, a gente pode substituir por valores de democracia racial, de igualdade entre os gêneros. Aí sim a gente vai poder pensar, como sociedade, em medidas coletivas para poder combater essas desigualdades que impedem o País de se desenvolver.
CC: Em meio ao debate do racismo, do colorismo, existe também a influência da mídia, que nem sempre ajuda…
AD: Vou te dar um exemplo: em Montreal, a comunidade negra está desenvolvendo projetos de mídia. Mídia que seja ocupada por pessoas racializadas, para que elas possam promover os debates ligados às questões do nosso cotidiano. Houve uma série de episódios de violência policial em Montreal, de morte em hospitais por conta de a pessoa ser racializada – ou ser indígenas ou ser negra -, de não conseguir ter acesso a um serviço de saúde digno porque era negra, porque era indígena; e isso tudo faz com que a sociedade se organize para que possa pautar o assunto. Como é que coisas como essas não são manchete? Como é que a gente não cria um debate nacional em torno dessas questões, mas vai criar um debate sobre o que a 1ª Dama come na hora do almoço. O que é pauta, o que é prioridade, é também um símbolo daquilo que interpela ou não determinada mídia, aquilo que interpela ou não o seu interesse. Então, acho que é bem importante que a gente se organize, não só para ocupar os espaços midiáticos existentes, mas para criar canais de comunicação que possam promover também debates que são, atualmente, os pontos cegos da mídia.
A grande rede de televisão canadense é a Rádio Canadá. É uma concessão pública, como é o caso do Brasil, mas ela tem verbas públicas para funcionar. Existe um debate… por exemplo: muito recentemente, a emissora teve a primeira jornalista negra que utiliza véu, que utiliza o hijab, o símbolo do islã. E a rede de TV foi extremamente criticada, porque diziam que estava “normalizando ser muçulmano”. Lógico que tem que normalizar ser muçulmano. Muçulmano é normal. Da mesma forma como a gente usa um crucifixo, a gente pode usar também um turbante africano e a gente também pode usar um véu islâmico. Não tem problema nenhum.
Mas isso indica, muito, a forma pela qual as pessoas se incomodam com o outro, né? Por símbolos de alteridade. Por quê? Porque o normal é ser branco, o normal é ser cristão. A cruz e o crucifixo não incomodam, né? Mas o turbante africano, os dreadlocks, o véu islâmico, isso incomoda. Porque é aquilo que sai da tangente racial do que entendemos como normal. Mas além disso, além de cobrar que a televisão seja um reflexo da sociedade, que é uma sociedade diversa – no caso do Brasil e do Canadá -, é preciso criar realmente projetos de mídia independente: canais, jornais, que possam propor contranarrativas ao discurso hegemônico e que apresentem as questões que, de fato, interpelam a sociedade. No Canadá, tem o Breachmedia, um grande projeto nesse sentido.
CC: É possível imaginar esse debate sobre colorismo chegando às escolas brasileiras?
AD: Eu sempre falo para a Djamila que teria me feito muito bem, quando eu era criança e adolescente, ter crescido tendo alguém como ela, o Silvio Almeida, pautando na mídia e nas escolas o debate sobre racismo.
Para você ter uma ideia, eu fui escolarizada no interior de Mato Grosso, numa cidadezinha que se chama Diamantino, a 200 quilômetros de Cuiabá, e eu só fui descobrir o que era quilombo, o que era um movimento quilombola, quando eu tinha 20 anos. Isso não é normal. Isso não é normal! E não é somente pelo fato de eu ser brasileira. Como é que eu, brasileira, só fui descobrir o que é quilombo aos 20 anos? E eu estudei em escolas privadas caras. Ou seja, o ensino não é de qualidade. Mas não só o ensino não é de qualidade, como também há uma escolha por pautar outras questões em vez de falar sobre um dos maiores movimentos de resistência do povo negro. E isso é terrível.
Então, eu acho que seria muito importante que as crianças e adolescentes pudessem ter acesso a livros como os lançados pela coleção Feminismos Plurais, porque são resultado de pesquisas de anos, e que simplesmente querem desvelar para o grande público aquilo que é a nossa História. A gente não vai conseguir resolver nossos problemas estruturais sem compreender como chegamos a esse ponto. É compreendendo as suas razões que a gente vai conseguir criar políticas públicas eficazes. Então, acho que é muito triste que o governo do Brasil continue com esse controle ideológico. Porque isso, sim, é censura, e é censurar a própria História. Portanto, é absolutamente contraprodutivo.
CC: Em recente ‘live’, Bolsonaro criticou a forma como os índios lidam com a terra e o processo de demarcação de reservas indígenas. O que você tem achado do governo Bolsonaro?
AD:Eu acho que o governo Bolsonaro é uma tragédia, tanto em matéria cognitiva como em matéria política. É humilhante para mim, como pesquisadora, chegar numa universidade para falar sobre economia e sociedade brasileira, e ter que me deparar com manchetes de jornais nas quais o presidente da República afirma que quem tomar a vacina pode se tornar um crocodilo, um jacaré; ou, numa outra situação, dizer que o peso de homens e mulheres negras quilombolas se faz por arroba, o que é uma forma de animalização do homem e da mulher negra, a forma mais bestial de racismo que uma pessoa pode apresentar para a sociedade.
E Bolsonaro é também um presidente que, infelizmente, não compreende o País. Não tem leitura política do País. Não entende os fundamentos econômicos de base, não só da economia brasileira, enquanto um país de capital de periferia, como não compreende o papel do Brasil na circulação financeira do capital. Então, é um presidente que é inábil, inepto, é um presidente que nos humilha internacionalmente. O que ele fala é tão absurdo que as pessoas não acreditam e, aqui no Canadá, me perguntam: “ele falou mesmo isso?”. E eu tenho que confirmar. É a humilhação última.
CC: Acha que essas declarações funcionam também como tática para tirar o foco do que realmente importa?
AD: Exatamente. Para desviar o foco, por exemplo, de que quando ele fala da comunidade indígena de uma forma racista e depreciativa, isso indica a que ponto o Bolsonaro está no fim da fila daquilo que está sendo feito de vanguarda para se valorizar recursos ambientais; como é o caso da floresta, como é o caso das nossas águas, como é o caso da nossa biodiversidade. Enquanto alguns países se esmeram em ter recursos para conservar e valorizar o pouco que se tem, no Brasil a gente tem uma das maiores biodiversidades do mundo, mas alguém que acha ainda que atear fogo e fazer pasto – para poder fornecer carne para o mercado internacional – vai desenvolver o País.
A gente não está fazendo o que devia, e esse atraso, daqui a 10, 15, 20, 30 anos, vai custar muito caro para os nossos filhos e as nossas filhas. Podíamos estar na vanguarda da ciência, afinal, temos universidades de ponta no Brasil que têm todas as condições – tinham, ao menos, quando havia financiamento – de criar mecanismos de novas formas de energia renovável, por conta do grande manancial de rios, de águas, pelo enorme litoral que temos, por conta da energia eólica.
Portanto, o que eu percebo é que o discurso racista do Bolsonaro em relação a negros, a indígenas, o desprezo por medidas de correção da desigualdade social e da desigualdade racial, indicam que ele, infelizmente, é aquele típico senhor que a gente ouve, às vezes, sentado na mesa de bar, falando sobre política e que a gente sorri ‘de canto de boca’, achando penoso ouvi-lo. Hoje aquele moço sentado no canto da mesa do bar é presidente da República, e as faltas que ele tem representam o Estado brasileiro. Portanto, a gente tem que reagir como sociedade, não só porque o que ele diz é racista e não tem nenhuma coesão e qualquer lastro, ou traço, de dados factíveis e respeitáveis, mas porque Bolsonaro é alguém que não compreende que a manutenção de uma sociedade desigual e racista não cria riquezas também.
O atual presidente renova os votos da ditadura. Quando o governo brasileiro foi questionado, na década de 1970, pela Organização das Nações Unidas sobre quais eram as medidas que o Estado promovia para combater o racismo, o presidente do regime ditatorial brasileiro respondeu: “nenhuma”, sem nenhum tipo de vergonha. “não tem nenhuma, porque no Brasil não existe racismo. Nós temos uma democracia racial”. Ou seja, é o tipo de resposta que a gente vê, de fundo, em todas as declarações do Bolsonaro. Ele só é uma mera continuidade da política de apagamento das desigualdades. Como se fosse possível apagar 300 anos de escravidão, e como se fosse possível negar todas as estatísticas do IBGE que indicam, claramente, que quanto mais escura é a pele do trabalhador, menor é o seu salário. Isso é o maior indicativo de que o colorismo não só existe como também organiza o mundo do trabalho.
Apoie o jornalismo que chama as coisas pelo nome
Os Brasis divididos pelo bolsonarismo vivem, pensam e se informam em universos paralelos. A vitória de Lula nos dá, finalmente, perspectivas de retomada da vida em um país minimamente normal. Essa reconstrução, porém, será difícil e demorada. E seu apoio, leitor, é ainda mais fundamental.
Portanto, se você é daqueles brasileiros que ainda valorizam e acreditam no bom jornalismo, ajude CartaCapital a seguir lutando. Contribua com o quanto puder.